



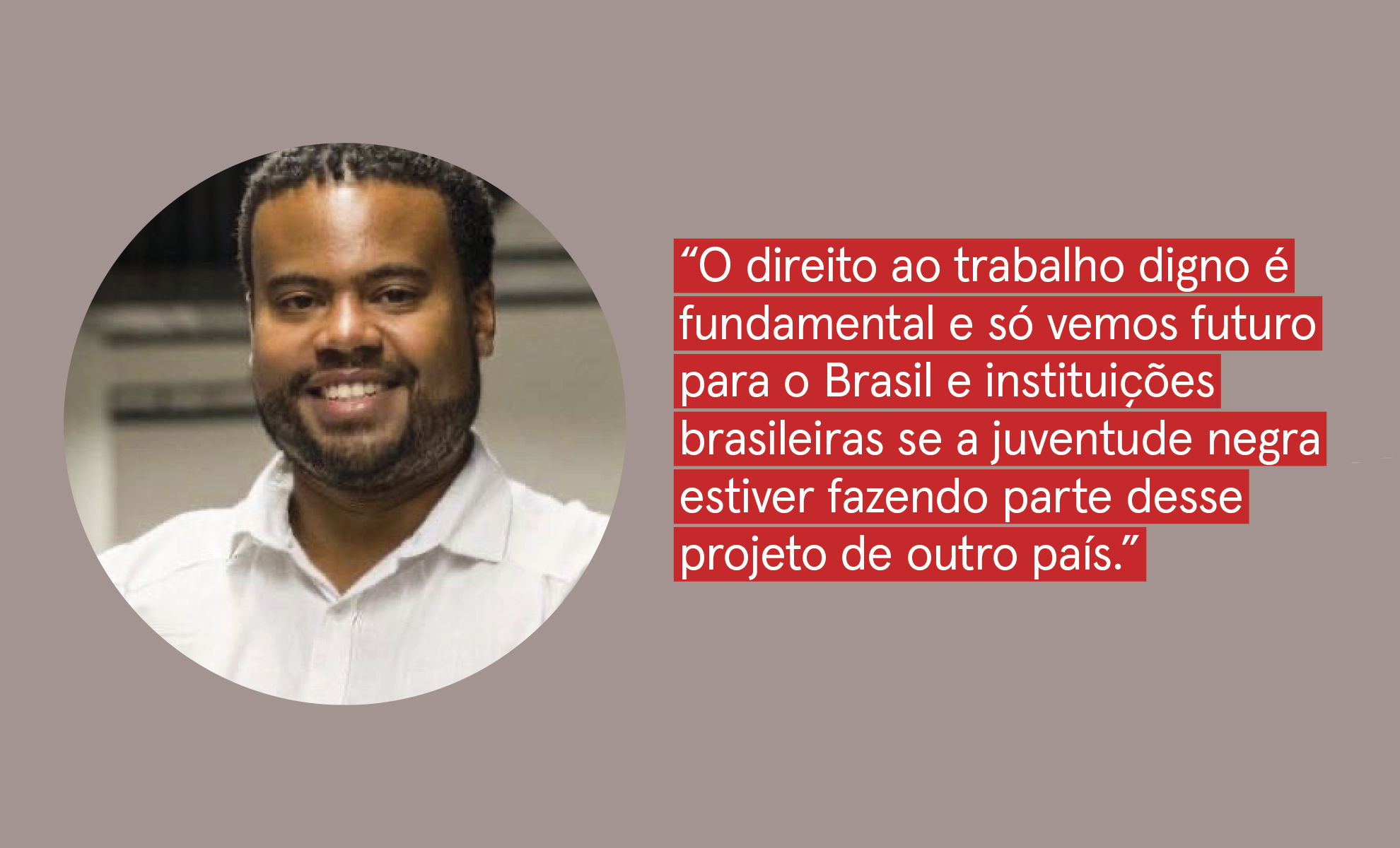
Diana Mendes e Tássia Mendonça analisam cenário de desigualdades étnico-raciais e de gênero no judiciário que reflete a exclusão da população negra dos espaços de poder
O mercado de trabalho é um espaço ainda bastante hostil a mudanças voltadas a ampliar o acesso de pessoas negras e a possibilitar sua chegada a cargos de liderança. A contradição da maciça presença de pessoas brancas no domínio dos ambientes profissionais mais privilegiados, em detrimento da exclusão das pessoas negras — que hoje representam 56% da população brasileira — expõe a desigualdade histórica no acesso a emprego e trabalho, um dos direitos primordiais básicos de cidadania.
Recentemente, algumas organizações vêm se esforçando para uma revisão de suas culturas organizacionais e se somam na promoção de ações afirmativas em seus quadros funcionais, seja por uma pressão econômica, ou por pressões da sociedade civil, que há anos se articula em prol da justiça racial no mercado de trabalho.
Para contribuir com o debate em torno das ações afirmativas nas empresas e organizações, o Instituto Ibirapitanga entrevistou o Daniel Teixeira, diretor executivo do CEERT – Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, que aborda as conquistas da sociedade civil em defesa da promoção e reconhecimento da equidade racial e expõe também os atuais desafios do contexto de democracia fragilizada e agravamento da desigualdade.
Instituto Ibirapitanga: Este já tem sido um ano marcado por episódios de questionamento às políticas públicas que reforçam mecanismos de ações afirmativas para a população negra. A despeito do sucesso dessas políticas em diminuir as desigualdades raciais, frequentemente nos vemos na posição de revisitar e reforçar argumentos básicos em torno da importância das ações afirmativas. Como uma das lideranças nesse tema, gostaríamos que você nos desse sua visão do que são ações afirmativas e por que devemos defendê-las.
Daniel Teixeira: O racismo foi a primeira matriz de desigualdade presente no Brasil. As primeiras interações entre portugueses, indígenas e população negra se deram por meio do racismo. Com a expropriação de trabalho da população negra e povos indígenas, bem como os genocídios ao longo da história, percebemos o quanto que, a partir daí, as desigualdades sociais se sistematizaram e se reproduziram no Brasil. Então, essa primeira matriz, que é o racismo, estabelece os lugares sociais da população negra de maneira bem delimitada.
Sempre gosto de lembrar que “brasileiro” é profissão. Nem sempre paramos para lembrar disso, mas o sufixo “eiro” na língua portuguesa designa profissão. Por exemplo, “marceneiro”, “pedreiro”, “bombeiro” e somente nós nos chamamos assim, não nos referimos a nenhum outro gentílico de nenhuma nacionalidade, como profissão.
O Brasil foi formado como um ciclo de exploração econômica, não como uma nação propriamente dita; e a partir dessa noção de exploração, por uma hierarquia constituída pelo racismo, o trabalho foi usado justamente como um instrumento de expropriação. Isso é bem importante na nossa história, porque se repete nos outros ciclos econômicos.
Em geral, o intuito de ações afirmativas é a promoção da equidade, incidindo sobre as oportunidades no sentido de um reflexo do que é a população. Então, as primeiras ações afirmativas — com essa nomenclatura — ocorreram nos Estados Unidos no início da década de 1960, a partir de uma ordem executiva do presidente Kennedy((A Executive Order 10.925, de 6 de março de 1961, com a assinatura do então presidente John F. Kennedy, nos Estados Unidos, estabelecia que as empresas contratadas pelo governo deveriam tratar seus empregados, inclusive no que se refere à promoção, “sem discriminação de raça, credo, cor ou nacionalidade”.)), que propiciou que as empresas que tivessem contrato com o poder público refletissem a proporção etnico-racial em suas composições, nas diferentes regiões do país. A partir dessa ação, o conceito das ações afirmativas ganhou corpo e se desenvolveu também na educação e em outras áreas.
No Brasil foi o contrário, tivemos um grande avanço na área de educação a partir da Declaração de Durban em 2001((A “Conferência de Durban”, como ficou conhecida, foi a terceira de uma série de eventos que projetaram a questão racial como central. Suas duas antecessoras ocorreram respectivamente em 1978 e 1983. Após a segunda, mulheres negras brasileiras se mobilizaram para a IV Conferência Mundial sobre a Mulher realizada, em 1995, na China, na cidade de Beijing. Desde então, a sociedade civil brasileira organizada, em especial em torno da questão racial, viveu uma crescente mobilização, chegando a Durban com pautas bem definidas para somar forças junto a organizações de outros países.)), que impactou vários setores, resultado da terceira Conferência Mundial Contra o Racismo das Nações Unidas, na qual o Brasil teve a maior delegação do mundo e marcou presença nesse processo, tanto que a relatora foi uma ativista intelectual histórica do movimento de mulheres negras, que é a Edna Roland.
A partir desse marco, o conceito foi ganhando concretude nas universidades e em algumas instituições. Tivemos um foco maior e bem sucedido nas áreas de graduação e estamos vendo o quanto esse impacto gerou maior presença de estudantes negros na universidade. Há vários recortes e estudos que mostram que, desde a lei de 2002, que deu uniformidade às ações afirmativas das universidades, houve um aumento de 400%, que ainda assim, não reflete nem de longe a população negra nas diferentes unidades federativas brasileiras, conforme a lei prevê.
Mas esse avanço na educação não necessariamente é refletido no mundo do trabalho e é aqui que eu quero chegar: quando falei sobre o início dessas relações de trabalho no Brasil, temos depois desses percursos, no século XIX, um ponto de inflexão. No início do século XIX a maior parte da população era negra. Mas no limiar da “abolição formal”, no período entre 1874 e 1875, o que se percebeu foi uma redução dessa população em função do imigrantismo branco europeu promovido pelo governo brasileiro, que excluiu a população negra do trabalho assalariado e valorizou exclusivamente trabalhadores brancos e europeus, uma escolha do Brasil diante de um movimento eugenista que embasava uma ideia de branqueamento. Em 1930 foi criada a “Lei de nacionalização do trabalho”((O Decreto n.º 19.482, de 12 de dezembro de 1930, ficou conhecido como Lei de Nacionalização do Trabalho, ou Lei dos 2/3. A legislação limitava a entrada de estrangeiros no Brasil e determinava que dois terços das vagas de emprego das “empresas, associações, companhias e firmas comerciais, que explorem, ou não, concessões do Governo Federal ou dos Governos Estaduais e Municipais” deveriam ser ocupadas por brasileiros natos.)) que, apesar de não ter sido classificada como uma ação afirmativa, foi uma lei de cotas que determinava que ⅔ dos trabalhadores das instituições deveriam ser brasileiros. Em função disso, houve o reflexo positivo para a população negra.
Somente agora estamos vendo um outro movimento, depois das ações afirmativas das universidades ganharem mais corpo, de abertura para uma discussão mais amadurecida sobre ações afirmativas no mercado de trabalho. Começamos a ver mudanças ainda incipientes, mas que podem e vêm se tornando mais consistentes ao longo desses anos.
É necessário vislumbrar outra possibilidade de justiça socioeconômica no país e isso está previsto na Constituição Federal, no artigo 170, inciso 7, que trata da redução das desigualdades sociais e regionais como princípios da ordem econômica. As empresas e outras organizações empregadoras têm dever constitucional de implementar medidas de redução de desigualdade.
Como no Brasil a primeira matriz de desigualdade no trabalho é o racismo, que se estende até hoje, é necessária a implementação dessas medidas para a promoção da equidade racial no trabalho, as ações afirmativas. Várias empresas estão acordando pra isso, até por pressão da sociedade, do movimento negro e principalmente de mulheres negras.
Instituto Ibirapitanga: O CEERT é uma organização que se colocou na vanguarda das ações afirmativas no mercado de trabalho. Como esse processo foi se desenhando na atuação da organização e quais incidências e conquistas vocês visualizam a partir dela?
Daniel Teixeira: O CEERT traz o trabalho no nome, claro que ao longo do tempo a organização foi ampliando o seu escopo de atuação, ao agrupar educação e saúde da população negra, mas o trabalho sempre foi o seu carro-chefe.
A organização surgiu no meio de um debate pungente no movimento sindical, no contexto de greves importantes no sindicalismo brasileiro, principalmente na região do ABC, em São Paulo, que forjaram muitas lideranças sindicais. Naquele momento, houve todo um debate de como os sindicatos poderiam incorporar também a pauta que o movimento negro trazia. Isso nunca foi uma coisa tranquila, porque por mais que estejamos no campo progressista ao falar do movimento sindical, sempre houve resistência e dificuldade de entender a pauta da raça como estratégica. Havia algum entendimento de que a pauta dividia a sociedade e o mito da democracia racial sempre fez muito efeito, desde a década de 1930 para cá, inclusive nos campos progressistas.
O CEERT fez estudos que demonstram o mapa da desigualdade da população negra no mercado de trabalho; foi uma pesquisa importante e endereçada às lideranças do movimento trabalhista. Depois, em 1992, foi realizada uma denúncia feita pela instituição à OIT – Organização Internacional do Trabalho, pelo descumprimento do Brasil da “Convenção 111”((Aprovada na 42ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra — 1958), entrou em vigor no plano internacional em 15 de junho de 1960.)), que trata de discriminação em emprego e profissão e que desencadeou uma serie de iniciativas no governo federal, na tentativa de dar resposta, ainda que de uma forma um tanto improvisada, a essa denúncia coordenada pelo CEERT em conjunto com as maiores centrais sindicais na época. Isso repercutiu também no reconhecimento cada vez maior da organizaçao, que já tinha entre os seus co-fundadores pessoas que vinham de movimentos sindicais, de empresas publicas e de experiências em conselhos da comunidade negra, que pautavam o tema do trabalho como bandeira prioritária do movimento negro.
Depois do movimento sindical, o CEERT teve um importante enfoque em termos de política nos municípios, sempre em parceria com outras organizações. A partir de um determinado momento, fomos percebendo uma abertura também nas empresas. Houve conquistas do movimento sindical, a partir dessa atuação do CEERT junto ao movimento e do MPT — Ministério Público do Trabalho, que se aproximou para a realização de ciclos de formação sobre o tema. A criação da Coordigualdade – Coordenadoria de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho, desencadeou uma série de ações coletivas que questionavam a ausência de negros ou ausência de ascenção por meio de processos seletivos internos, por conta do investimento diferenciado, entre brancos e negros para, futuramente, ocuparem cargos de liderança organizacional. Tudo isso possibilitou uma primeira experiência, do ponto de vista judicial, questionando, a partir da pressão de organizações do Movimento Negro, no Ministério Público do Trabalho, o racismo institucional presente nas organizações e empresas.
Essa experiência levou ao Congresso Nacional, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, uma discussão mais ampliada de um termo de ajustamento de conduta para que fosse realizado, no setor bancário, um diagnóstico sobre as relações de trabalho e a equidade racial, pensando também as diferenças de gênero e as pessoas com deficiência. Em outras experiências de censo que realizamos, entraram também a orientação afetivo sexual e a identidade de gênero que não estavam colocadas no primeiro momento.
Isso foi desenvolvendo uma maneira também de atuar no que hoje o movimento Black lives matter, principalmente, no contexto pós-George Floyd, tem chamado de auditoria racial, que é, a partir de um caso grave de racismo, fazer recortes profundos e consistentes, nas empresas, desafiando e expondo essas desigualdades, muitas vezes a partir de um caso de racismo.
Isso se deu em empresas como o Carrefour – e eu nem estou falando agora do caso João Alberto, estou falando de um caso anterior, do Januário, levado a uma sala, pressionado e torturado por seguranças que o acusaram de roubar o próprio carro. O caso foi classificado como tortura no inquerito policial e desencadeou uma mudança necessária por parte da empresa. Mas nem por isso deixou de ocorrer um novo caso no supermercado. Recentemente o caso João Alberto Freitas escancarou um território ligado à segurança privada, que é espinhoso e necessário de ser visto e revisto. Eu já atuei na área de justiça do CEERT, no caso de racismo praticado pelo shopping Cidade Jardim, contra o músico cubano e negro, Pedro Bandeira. Na ocasião, Pedro entrou no estabelecimento para realizar um show, juntamente com outros músicos que acompanhavam a artista Marina De La Riva que se apresentaria no local. Todos os músicos brancos entraram e passaram pelos seguranças do shopping sem nenhuma verificação, enquanto Pedro foi tido como “suspeito” desde a garagem e foi abordado como se tivesse cometido um crime. Pela primeira vez, conseguimos condenar uma empresa, que é o shopping Cidade Jardim.
Tudo isso para dizer que essa tomada de consciência por parte de várias empresas não se deu espontaneamente, se deu a partir do questionamento, como tem sido nos Estados Unidos, Índia e África do Sul — países em que a ação afirmativa no trabalho avançou em função de pressão social, seja por meio do movimento negro, casos individuais que foram ganhando destaque, ou por meio do Ministério Público, ouvindo a sociedade civil organizada se manifestar.
Isso tem impulsionado, também no Brasil, as empresas a terem outra atuação, porque elas perceberam que fica difícil construir um futuro economicamente viável sem equidade racial. Então, a partir do caso João Alberto Freitas, essa consciência ganhou uma dimensão ainda maior; por toda nossa história, que passa por uma resistência negada pelo mito da democracia racial, passando pela Conferência de Durban, a Marcha das mulheres negras, em 2015, que abordava sobre “o que é o bem viver”, que passa por uma justiça socioeconômica ambiental e antirracista. É a partir daí que as instituições vão sendo obrigadas a agir de modo diferente, a partir de estudos que trazem outro viés de ganho econômico, porque além de tudo, se as empresas promoverem a equidade, elas ganharão – algo que para nós, negros, sempre foi óbvio, mas, justamente por esse outro lugar de nao conhecimento e de racismo institucional mesmo, se negavam a fazer. A Mckinsey tem muitos estudos que mostram que os ganhos econômicos sempre ficam em 35% acima da média que uma empresa pode ter, caso ela promova equidade racial em seu ambiente. Quem é que não quer nesse mundo capitalista um ganho a mais dessa natureza?
Instituto Ibirapitanga: A ampliação da entrada de pessoas negras nas universidades significou um avanço importante. No entanto, as desigualdades no mercado de trabalho permanecem, como efeito do racismo estrutural em um ambiente menos regulado e mais heterogêneo. Que mecanismos podem ser implementados para alterar esse quadro? Quais políticas, governamentais ou privadas, poderiam ser referenciadas como exemplos?
Daniel Teixeira: A única cofundadora que permanece no CEERT, por cerca de oito anos, é a Cida Bento e ela estuda branquitude como um mecanismo de privilégio branco nas instituições, para quebrar a ideia de meritocracia no Brasil. Meritocracia num país racista não existe. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação proposta contra a política de cotas étnico-raciais para seleção de estudantes da Universidade de Brasília, a ADPF 186 trouxe a seguinte frase: “meritocracia sem considerar os pontos de partida é aristocracia disfarçada”.
Esse mito da meritocracia deve ser questionado, porque existe essa falsa crença de uma neutralidade meritocrática, que na verdade se traduz em branquitude e privilégios. Então, colocamos de forma muito nítida um trabalho que vem para questionar e incomodar por dentro as instituições. Não tem como tocar nesse tema sem haver incômodo, porque ele mexe com práticas arraigadas.
É necessário fazer isso, antes de mais nada, porque hoje estamos nesse outro mito do tecnicismo, como as métricas e as metas, como se apenas isso resolvesse. É importante que a gestão de equidade olhe para as desigualdades por dentro, para as questões que surgem de racismo, de discriminação de gênero, entre outras, como LGBTfobia, capacitismo, por exemplo. É preciso ter sim grupos de afinidades que reunem segmentos historicamente discriminados e minorizados para que se organizem e mexam na empresa por dentro, sempre nos aliamos a esses grupos já existentes, mas ao mesmo tempo, esse tema todo não mora no tecnicismo, ele mora numa visão de mundo e se insere na cultura da organização, porque se ela está sendo liderada e organizada para reproduzir culturalmente e institucionalmente o racismo, ela vai permanecer nesse mesmo lugar até que um caso grave estoure e ela precise mudar por mal.
A conscientização e o entendimento do racismo como sistema de opressão e não de forma casuística ou episódica, significa trazer essa dimensão nitidamente para quem é liderança institucional no país, juntamente com a pressão da sociedade que não deve parar.
A Cida Bento vem colocando isso como uma “panela de pressão” que torna essas instituições não problematizadas como “bolhas brancas”, que uma hora vão estourar e dar problema, porque como população negra nunca aceitamos estarmos fora de um projeto de justiça e desenvolvimento econômico.
Para nós do CEERT, o direito ao trabalho digno é fundamental e só vemos futuro para o Brasil e instituições brasileiras se a juventude negra que vem demandando, batendo e chutando a porta porque precisa, estiver fazendo parte desse projeto de outro país e de outras instituições. Porque se ela [juventude negra] continuar dentro dessa narrativa, que infelizmente é real também, de genocidio, não temos como construir um país minimamente democrático, aí é barbárie mesmo. Então, estamos falando de direito ao trabalho digno que é previsto como direito humano e fundamental nos tratados de direitos humanos na constituição federal.
Instituto Ibirapitanga: Com frequência, as posições de defesa das ações afirmativas enfatizam a dimensão dos “benefícios” concedidos a pessoas negras. No entanto, pouca ênfase é atribuída às transformações produzidas pela inserção de pessoas negras nos espaços institucionais. Na sua visão, quais são as principais contribuições dessa população negra que passa a ocupar espaços antes dedicados quase exclusivamente a pessoas brancas?
Daniel Teixeira: Eu acho interessante olharmos para uma bifurcação: existem as instituições que estão reconhecendo e trabalhando suas culturas organizacionais institucionalmente racistas, para a partir daí, iniciarem uma mudança que as colocam em outro patamar. Existem também as instituições que se inserem a partir de um ponto de vista casuístico: “vamos admitir uma pessoa negra e colocá-la em determinado lugar”, aliás, a pessoa negra passa a ser uma “embaixadora de tudo”. Eu tenho ouvido muito depoimento de jovens negras, negros e negres sobre suas experiências. Tenho como exemplo o caso de uma jovem negra trans, que foi admitida para atuar na área de comunicação de uma grande empresa. Além de ser uma profissional da área de comunicação, que tem as métricas todas para serem avaliadas, ela tinha que ser “porta-voz” da questão trans e da questão racial dentro da empresa. Só que, no final do dia, ela era avaliada pelo seu desempenho em comunicação. E aí vemos o que é a branquitude institucional: pessoas negras adoecendo inseridas em situações em que a cultura organizacional não é problematizada. Há casos de fundações e organizações da sociedade civil, instituições públicas e privadas, que, por não trabalharem suas culturas, isolam pessoas negras e as repelem de seus quadros funcionais.
As instituições ganham com ações afirmativas, inclusive as empresas economicamente falando, só que também é preciso trabalhar essas culturas constantemente, fazer com que as pessoas negras se sintam pertencentes, porque senão é isso: ou elas saem das organizações ou permanecem adoecidas. É preciso nos atentarmos para essa questão de saúde mental.
O Programa Prosseguir do CEERT foi pensado para que esses jovens continuem numa rede de proteção, acolhimento, troca, mobilização e articulação. Alguns atuam politicamente juntos, outros fazem negócios de impactos sociais e geração de renda para eles, sempre mantendo um lugar de encontro.
Em uma entrevista concedida por Lázaro Ramos, ele dizia: “Para mim a importância de ver o Bando de Teatro Olodum((O Bando de Teatro Olodum é a companhia negra mais popular e de maior longevidade na história do teatro baiano e uma das mais conhecidas do país. Foi fundada em 17 de outubro de 1990, em Salvador.)) foi que eu, como jovem negro, vi tantas pessoas negras interpretando desde Sheakspeare até autores contemporâneos, na TV, no cinema, no teatro, na dramatugia escrita… e isso fez me enxergar como possível nas artes pretas”. Então, trabalhamos esse território no Programa Prosseguir.
Instituto Ibirapitanga: Dentro desse exemplo que você trouxe do Lázaro Ramos percebemos o quanto as organizações e movimentos negros fazem esse esforço de tornar pessoas negras “possíveis” nos espaços que não foram pensados para elas. O que se torna possibilidade nesse caso, quando a cultura organizacional é trabalhada para acolher a existência de pessoas negras?
Daniel Teixeira: Aí é muita potência! O movimento negro nos deu régua e compasso, e se você habita um lugar estratégico, com essa régua e compasso, você faz muita potência a partir desses lugares e é isso que vimos buscando.
Essa busca não deve ser isolada, tem que ser de forma coletiva envolvendo todo o ecossistema onde estão os sindicatos, o Ministério Público do Trabalho e os movimentos negros, para que se preservem as conexões, mantenham as raízes da árvore, tendo tudo isso como elemento de continuidade.
Uma pessoa negra dentro de um lugar estratégico da organização faz muita diferença para ela e também coletivamente, porque nesses cargos é possível fazer mudanças institucionais, contratar mais pessoas negras, mas trabalhar a cultura organizacional por dentro, provocar a instituição, sempre sabendo que terá resistência. O racismo vai operar ali, em pessoas que estão dentro das organizações, que se calam, não falam nada, mas que sabemos que são opositoras a esse movimento. Mas também sabemos que há pessoas aliadas ou parceiras, que podem fortalecê-lo.
Instituto Ibirapitanga: O CEERT se posicionou no caso em que o LinkedIn derrubou uma vaga afirmativa e, após pressão social, mudou sua política para permitir vagas que priorizam grupos desfavorecidos no Brasil. O que esse caso nos ensina sobre os desafios e benefícios da discussão sobre ações afirmativas nesse momento?
Daniel Teixeira: O ganho importante desse período mais recente foi tirar esse tema do tabu.
Eu acho que, no momento em que se fala tanto em letramento racial, é fundamental caminharmos para uma fluência na discussão [grifo nosso]. Eu gosto muito da postura da Kimberlé Crenshaw((Defensora dos direitos civis norte-americana. É uma das principais estudiosas da teoria crítica da raça. Ela é professora em tempo integral na Faculdade de Direito da University of California e na Columbia Law School, onde se especializa em questões de raça e gênero. Crenshaw é também fundadora do Centro de Interseccionalidade e Estudos de Política Social da Columbia Law School e do Fórum de Política Afro-Americano, bem como do presidente do Centro de Justiça Interseccional (CIJ), com sede em Berlim.)), que, quando vem ao Brasil, sempre fala que estamos em um crossroad, uma encruzilhada. Ela diz que, atualmente, o Brasil se parece com os Estados Unidos nos anos 60, por conta de todo o debate recorrente em torno da importância das ações afirmativas e os Estados Unidos se parecem com o Brasil dos anos 60, por conta do contexto “colorblind”, pós-racialidade e o silenciamento em torno dessas questões.
Essa postura dela nos mostra que podemos aprender em ambas as partes. Uma das coisas interessantes na experiência estadunidense é que a fluência sobre o tema é muito tranquila para falar. Não quer dizer que não exista racismo lá, existe e nós sabemos bem, mas é justamente o tema sendo discutido no mainstream, na agenda política, social e econômica, que qualifica o debate e isso é o que ainda se vê começando no Brasil, mas acho que finalmente começamos, porque percebemos o quanto essa discussão ganhou um outro lugar na sociedade. Para além de estarmos letrados e sabermos os conceitos, temos que caminhar para a fluência, falar sobre isso de uma forma natural. O racismo está presente em tudo na sociedade e a partir daí que nós precisamos discutir a sociedade e esse caminho que estamos trilhando.
Vai ser muito difícil o retrocesso, porque se nesse momento histórico e político brasileiro, que tivemos que agarrar tanto as conquistas, presenciar um caso como esse e logo em seguida ver a empresa voltar atrás, mostra que muita coisa mudou. Recentemente tivemos no Brasil o caso da empresa Bombril, que lançou o selo “krespinha” cujo nome relacionava a esponja ao cabelo negro e teve que ser tirado do ar imediatamente, mas esse caso do Linkedin é emblemático, porque é uma política global da empresa [que mudou para o Brasil e outros países em que a legislação permite]. O caso foi uma demonstração de um possível retrocesso e, claro, assustou e nos chamou a posicionamento. Mas foi bacana ver o momento histórico de uma força política, revelando que, a partir de agora, um retrocesso é difícil. Houve um ganho de consciência e uma conquista do movimento negro nesse território.
Instituto Ibirapitanga: Quais são os próximos passos para avançarmos na reflexão, garantia e ampliação das ações afirmativas no mercado de trabalho, sejam privados ou públicos?
Daniel Teixeira: O Milton Santos((Milton Santos foi um geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado e professor universitário brasileiro. Considerado um dos mais renomados intelectuais do Brasil no século XX, foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil ocorrida na década de 1970.)) falava muito de uma fragmentação atribuída às empresas. Segundo ele, não dá para a empresa viver como se fosse outro ser, de maneira fragmentada.
Certa vez eu estava em uma formação em conjunto com a Polícia Militar de Alagoas e uma fala de um sargento me chamou a atenção. Ele dizia que achava importante a discussão da polícia, como o reflexo dessa sociedade violenta e não de uma organização à parte. Atualmente, no momento pré-eleitoral, que demanda discussões sobre o setor econômico, por exemplo, precisamos discutir qual tipo de projeto de desenvolvimento queremos; e ele precisa ser um projeto de justiça socioeconômica, ambiental e antirracista. Pautar isso em meio às eleições é fundamental, mas é necessário ampliar esse debate e essa fluência também entre nós, porque sabemos o quanto o racismo fez silenciar as possibilidades de discussão emancipatória, porque nos é pautado desde sempre aquilo que vem encaixotado na TV. Mas é como utilizarmos a via que nós temos, desde o correio nagô, o boca-a-boca para ampliarmos esse debate, nesse momento, que é o pré-eleitoral, mas também no pós-eleitoral, porque não importa quem ganhará, o racismo vai continuar e precisaremos aprofundar esse debate.
Então, se o tema saiu do tabu e muita gente, inclusive pessoas negras em função da opressão desse mito da democracia racial e do racismo como um todo era impossibilitada de fazer essa discussão, eu acho que nós, nesses lugares estratégicos em que estamos, temos essa responsabilidade de trazer mais pessoas para essa discussão de uma forma horizontal e coletiva de verdade, para construirmos outro momento político e que vai ter também impacto nessa dimensão para além das eleições.
Temos todo esse boca-a-boca, mas também temos que fazer impacto no “LinkedIn” da vida, e nas outras redes sociais também, porque se elas ficam apenas nos grupos ultraconservadores, dá no que dá. Precisamos ampliar o repertório e área de atuação nesse ambiente cibernético, porque quer sim quer não, a juventude mesmo está nele em peso. Eu acho que a internet tem a possibilidade de construção de movimentos coletivos que precisamos explorar mais, precisamos estar mais presentes, eu acho que precisamos ampliar, trazer mais gente, e nos fortalecermos.
Nossas instituições precisam apoiar, sobretudo, os coletivos de estudantes negros, que são muito estratégicos nas universidades e também no ensino médio. São formas de organização coletiva, que antes nem eram possíveis, porque não éramos nem minorias nos espaços. Hoje temos coletivos se organizando em diferentes áreas, conectando várias instituições por dentro. É preciso apoiar esses coletivos, principalmente os de juventude negra, por conta desse projeto de país, que passa necessariamente por aí.
Diana Mendes e Tássia Mendonça analisam cenário de desigualdades étnico-raciais e de gênero no judiciário que reflete a exclusão da população negra dos espaços de poder
Criado em 1990, o CEERT – Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades é uma organização não-governamental que produz conhecimento, desenvolve e executa projetos voltados para a promoção da igualdade de raça e de gênero.
Sobre a doação
Apoio para o fortalecimento institucional do CEERT sobretudo em relação à atuação estratégica internacional, articulação de iniciativas de combate à violação de direitos humanos da juventude negra brasileira, litigância estratégica e educação. Entre essas ações está a mobilização de recursos e desenvolvimento de um plano de comunicação para o projeto Prosseguir, voltado a fortalecer e monitorar a permanência de jovens negras e negros na universidade e sua entrada qualificada no mercado de trabalho. O apoio também possibilitará a realização de um evento internacional, com foco nos desafios enfrentados pela juventude negra no campo da educação, mercado de trabalho e justiça racial.
Valor
Duração
Ano
Sobre a doação
Apoio à nova etapa de fortalecimento institucional do CEERT, com ampliação estratégica nas áreas de educação, justiça racial, litigância e advocacy. Nesta fase, diante do contexto de enfrentamento à pandemia de Covid-19, o CEERT inclui esforços para maior participação no debate público, bem como em incidência política sobre desenvolvimento socioeconômico e direitos humanos. O apoio prevê: (i) credenciamento do CEERT junto às instituições internacionais e interamericanas de direitos humanos; (ii) criação de programas de mentoria com jovens no Programa Prosseguir; (iii) lançamento da Rede Prosseguir, em parceria com instituições para empregabilidade qualificada, oportunidades de mentoria, intercâmbio, aprendizado contínuo de idiomas, novas tecnologias, entre outros.
Valor
Duração
Ano





















