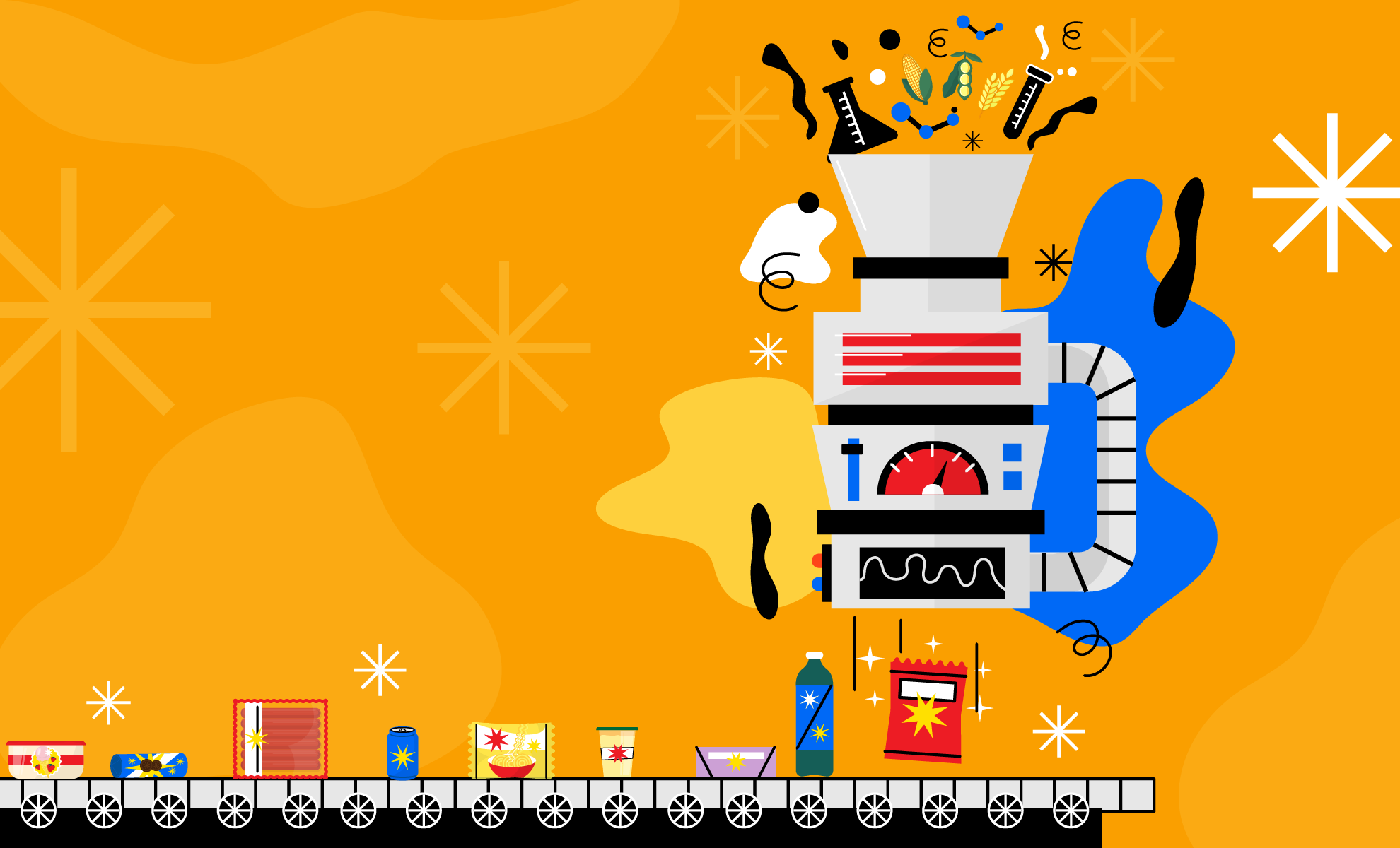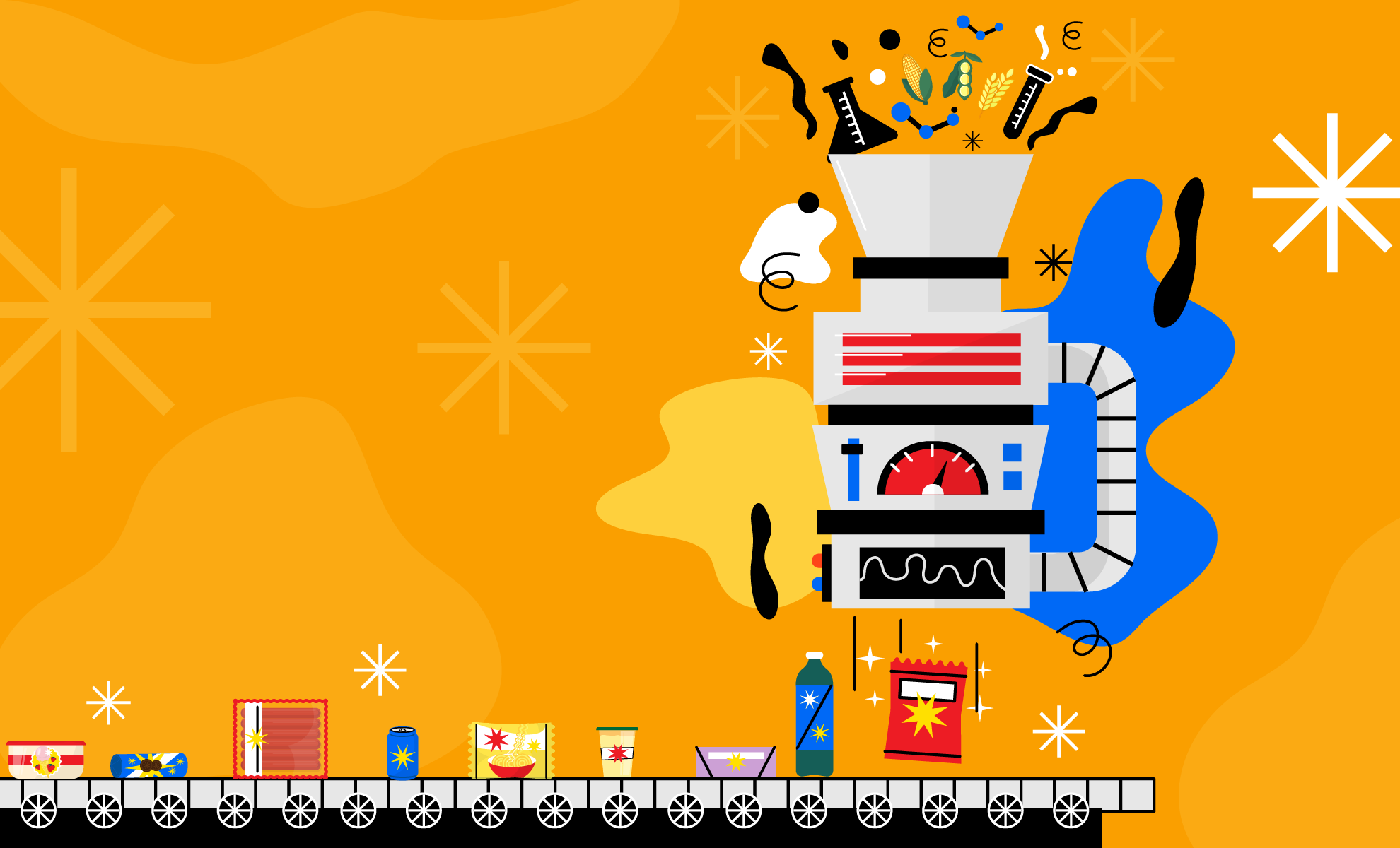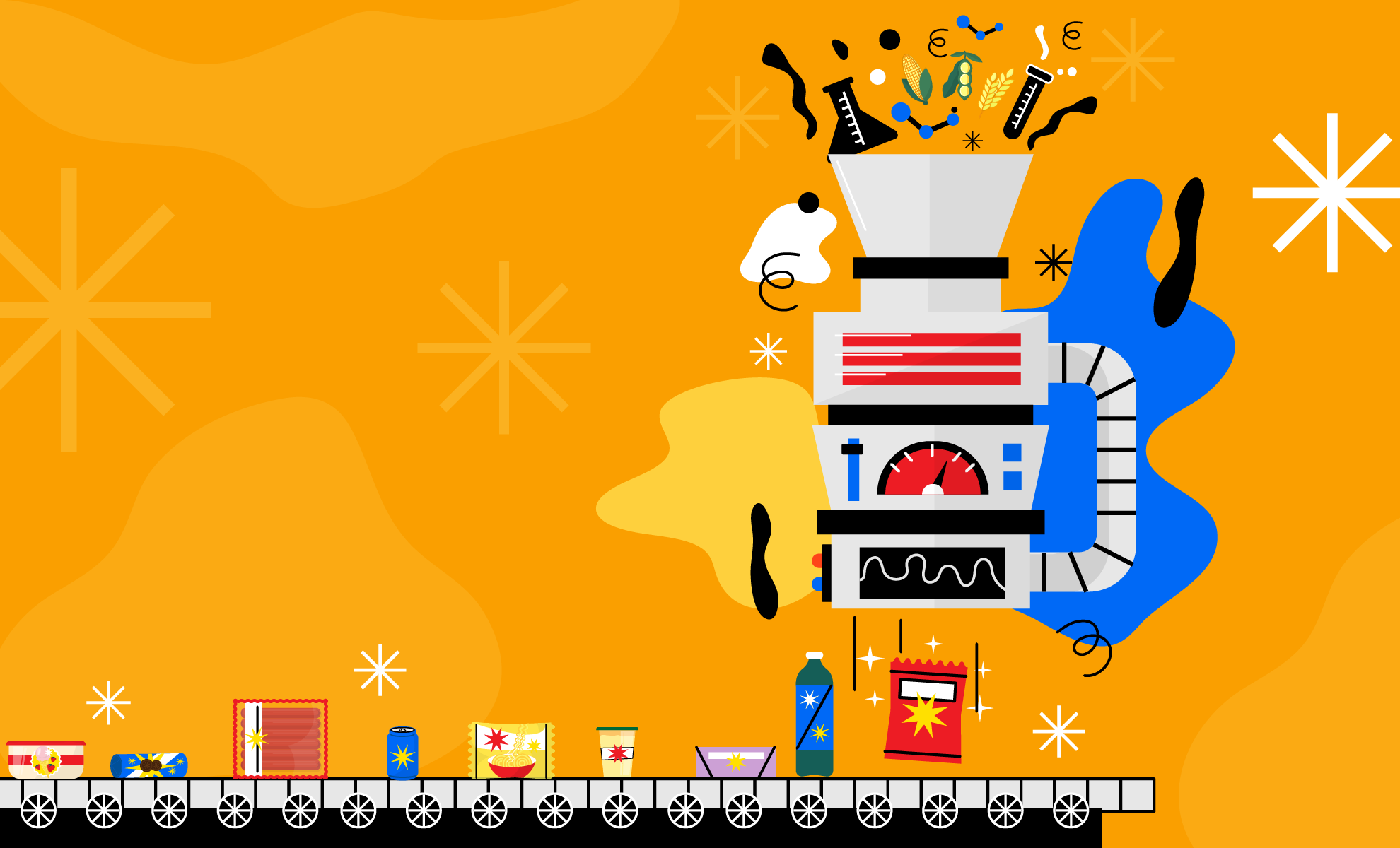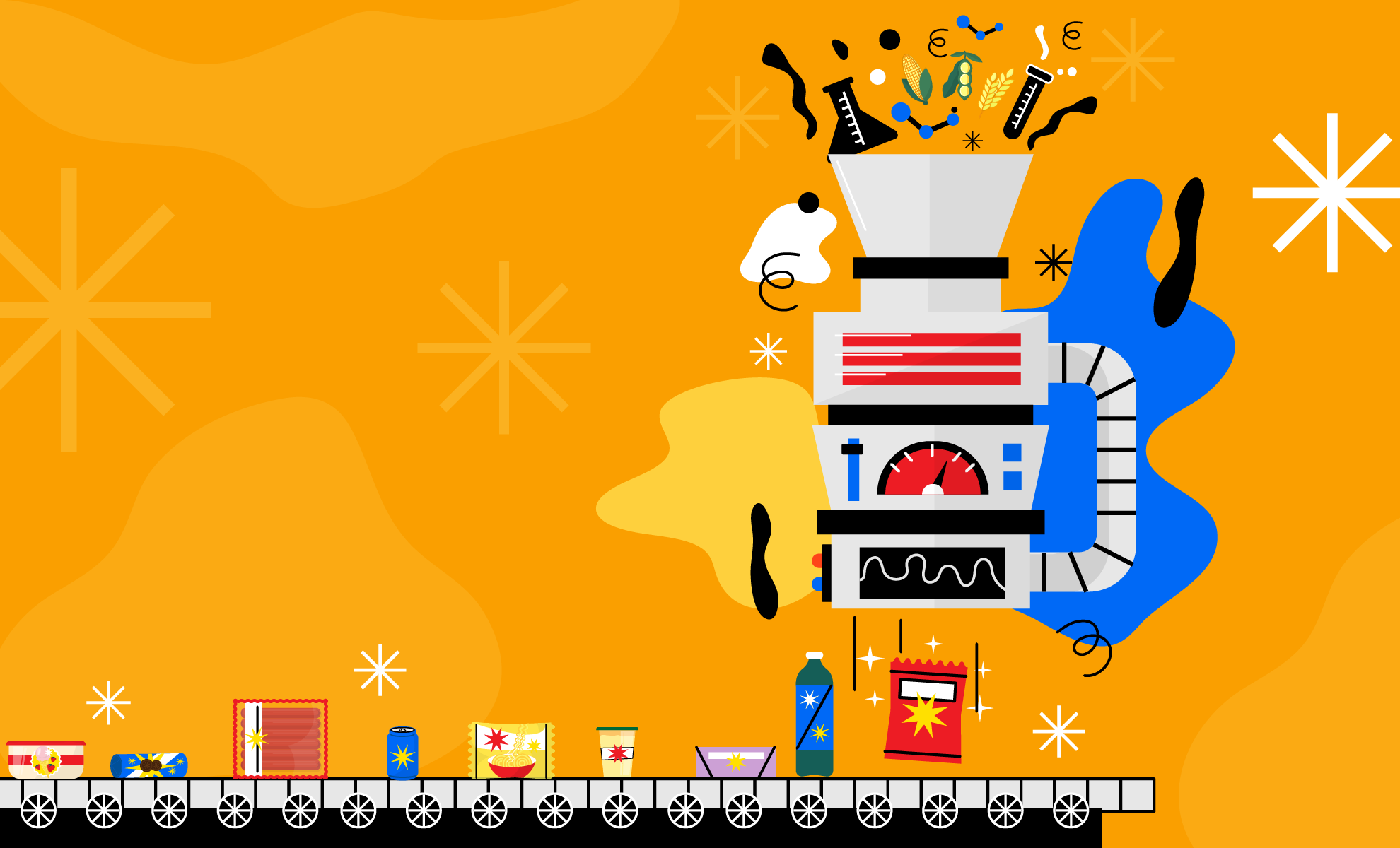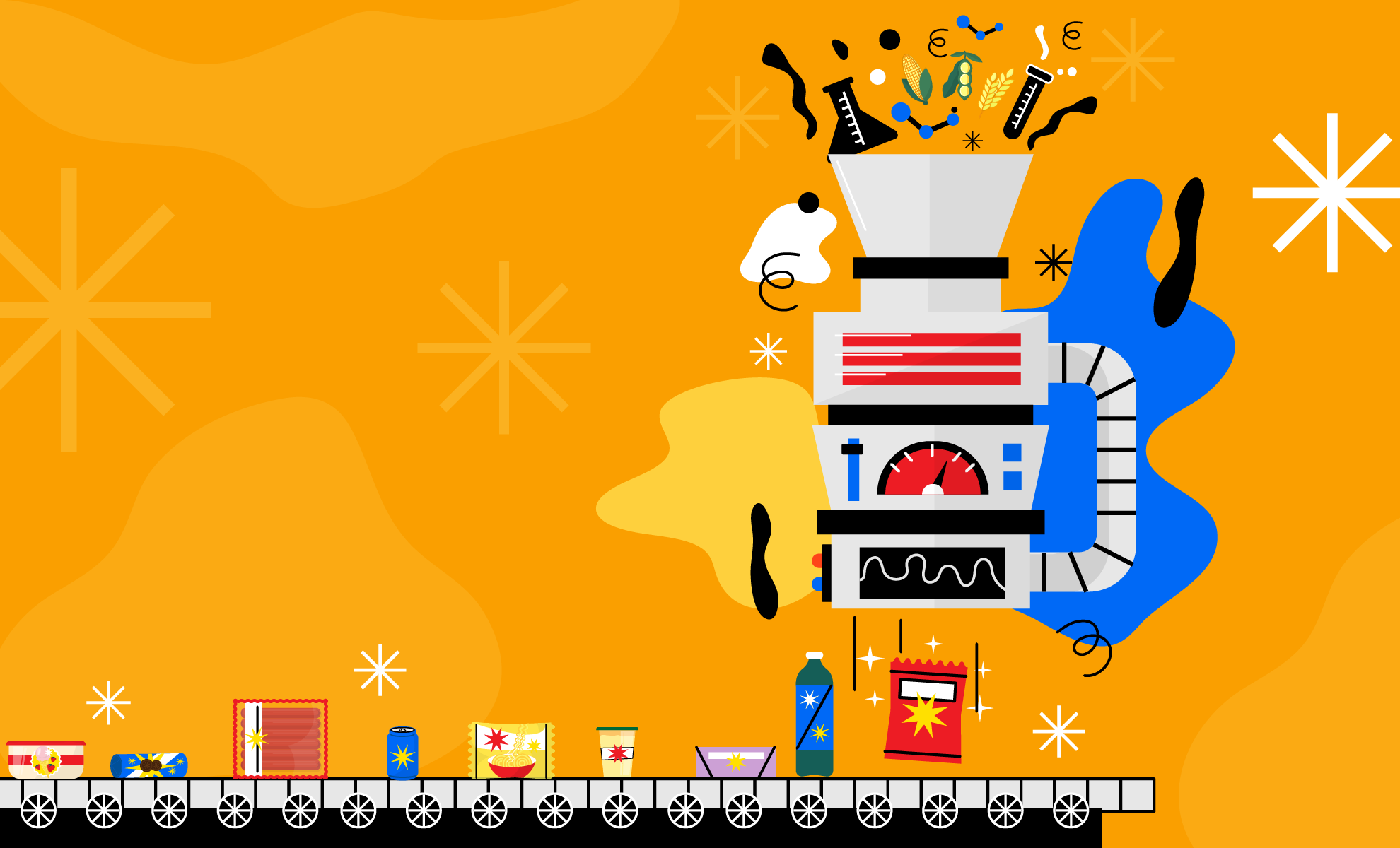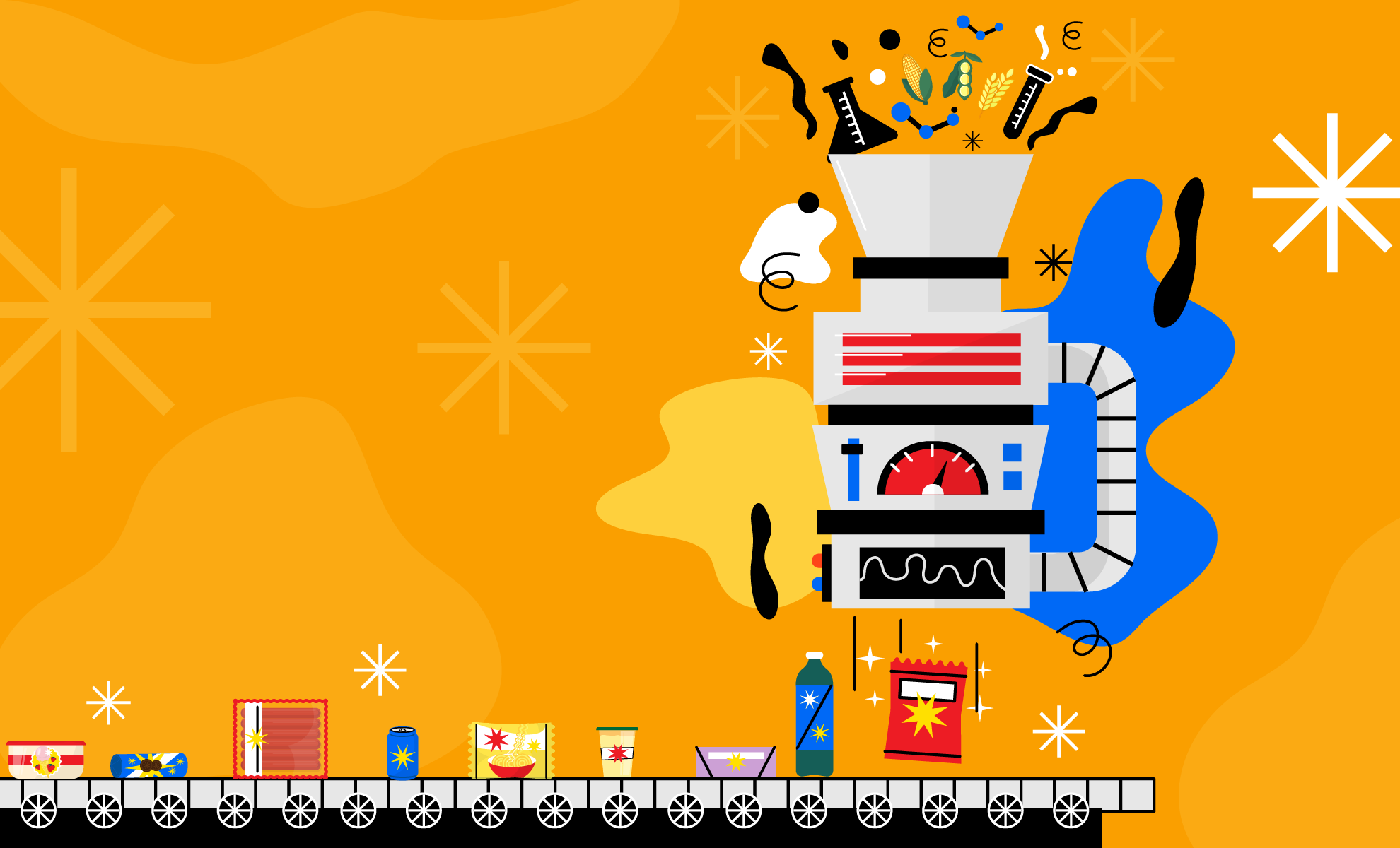(Por Linoca Souza) Fazer comida e comer com os seus é assumir uma função social que carrega sua magia de aprendizado, seja nos terreiros ou nas aldeias.
Fala de abertura realizada por Edson Cardoso, editor do jornal Ìrohìn e doutor em educação pela USP – Universidade de São Paulo, no encontro “Equidade racial: desafios no Brasil contemporâneo“((Disponível das páginas 17 a 28 do relatório “Equidade racial: desafios no Brasil contemporâneo“)), no dia 5 de junho de 2018.
Evidentemente, eu me sinto extremamente honrado com essa indicação para abrir os trabalhos com um público selecionado como este. Não sei como decidiram que eu deveria abrir o encontro, porque vejo aqui todas as pessoas em condição de fazer isso. E a responsabilidade aumenta. Procurarei ser o mais natural possível. Quem me conhece sabe como organizo desorganizadamente essas situações. E procurei não mexer muito, ser o que eu sou e apresentar uma reflexão que espero que contribua para um rico debate que vamos ter. Trouxe um texto de uma conjuntura muito rica, 1986, quando estávamos atuando na conjuntura pré-Constituinte. Na época, o movimento negro estava com uma campanha organizada de criminalização do racismo e várias candidaturas saíram de diferentes lugares. Fui candidato a deputado federal em Brasília com esse tema. E havia outras pessoas criminalizando o racismo, como Luiza Bairros((Gaúcha radicada em Salvador (1953-2016), dedicou sua vida à luta contra a discriminação racial e contribuiu para que essa agenda ganhasse visibilidade e centralidade nas políticas nacionais. Foi ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Brasil entre 2011 e 2014. Mais sobre ela. Acesso em: 5 set. 2018.)), em Salvador, e outros candidatos em todo o Brasil.
Vou ler um pequeno parágrafo para introduzir essa reflexão sobre o Brasil e o papel da dimensão racial. Esse texto foi publicado no “Estado de S. Paulo” em 17 de agosto de 1986, a propósito do enterro de Mãe Menininha. Mãe Menininha morreu, o enterro foi um estrondo, havia muita gente, e na conjuntura política pré-Constituinte, com os políticos presentes, o “Estado de S. Paulo” disse umas coisas muito duras e reveladoras. O texto compara esse momento como se pertencesse a um Brasil que deveria ficar para trás e projeta um Brasil do futuro. Esse Brasil que deveria ficar para trás é que vamos revelar aqui, recuando no tempo, para mostrar a concepção que o “Estado de S. Paulo”, de forma bastante consciente, estava apresentando naquela conjuntura, sobre o que devia ser deixado para trás.
Vou ler o trecho: “Diante do cortejo imenso e da importância política que presenças ilustres deram ao ato, resta-nos raciocinar sobre o imenso esforço de educação que é necessário para que o Brasil se transforme numa nação moderna, em condições de competir com os maiores países do mundo. A importância exagerada dada a uma sacerdotisa de cultos afro-brasileiros é a evidência mais chocante de que não basta o Brasil ser catalogado como a oitava maior economia do mundo, se o país ainda está preso a hábitos culturais arraigadamente tribais. Na era do chip, do tempo da desenfreada competição tecnológica, num momento em que a tecnologia desenvolvida pelo homem torna a competição de mercadorias uma guerra sem quartel pelas inteligências mais argutas e pelas competências mais especializadas, o Brasil infelizmente exibe a face tosca de limitações inatas, muito dificilmente corrigíveis por processos normais de educação a curto prazo. Enquanto o mundo lá fora desperta para o futuro, continuamos aqui presos a conceitos culturais que datam de antes da existência da civilização”.
É a essa tensão sobre a ideia de “civilização” que eu queria recorrer, recuando para 1909, na época do lançamento do “Recordações do escrivão Isaías Caminha” [do Lima Barreto], que é exatamente um livro escrito por um personagem na primeira pessoa que se propõe a contestar essa tese das limitações biológicas. O livro é isto: “eu vou dar o meu testemunho de que não são as limitações inatas que detêm o avanço da população negra e, sim, as condições, o contexto”. Esse é o impacto do livro, que muita gente joga para certas figuras presentes nos jornais da época, sem compreender exatamente que papel cumpre o jornal no livro. Seu impacto é: um homem negro, no início da República, diz na primeira pessoa exatamente que destino, naquele pacto, está reservado à população negra. Mas se recuarmos um pouquinho mais, vamos encontrar, num jornal que surgiu muito próximo do período de criação do “Estado de S. Paulo”, um jornal chamado “O Homem”, feito por negros libertos – livres e libertos – e cujo primeiro número foi publicado em 1876, em Recife. Nesse primeiro número, existe uma categórica refutação das limitações inatas atribuídas à população negra. Isso em 1876. “Os seres humanos foram criados iguais no corpo, iguais no espírito, não há entre eles senão diferenças acidentais. Nada há num organismo que não exista igualmente no preto e no branco.” Eles são libertos. Estão de olho num item da Constituição, num artigo, que diz que todos podem ocupar espaços no serviço público, independentemente de qualquer restrição. E já que eles são livres e libertos, por que não podem? Por causa da cor? Então, “O Homem”((“O Homem: Realidade Constitucional ou Dissolução Social”.)) surge para dizer: “A cor? Mas o que significa a cor? A cor não significa redução da humanidade”. Quando o jornal faz essa afirmação em 1876, está dizendo que as pessoas escravizadas são pessoas, e não são pessoas inferiores. O texto é muito forte. Nós, educadores públicos da minha geração (podemos nos autointitular assim, educadores públicos), saímos fazendo propaganda dessas ideias no século XX, e essas ideias já eram propagandeadas pelos negros no século XIX.
Vamos sempre ter essa tensão. Existe o racismo, mas há também um esforço organizado da população negra para confrontar as ideias do racismo. O racismo é fundamental na sociedade brasileira, mas a fala do racismo não existe sozinha – ela existe sempre com o contraponto organizado do movimento negro, antes mesmo de ser chamado como tal.
Esforço organizado, esforço coletivo que vem se construindo. Eu me refiro, portanto, a um documento central para refutar essas coisas, porque ele surge com uma diferença (acredito) de apenas dois anos após a “Província de São Paulo”, que vai dar no “Estado de S. Paulo”.
Claro que a história da imprensa brasileira – e eu fiz mestrado em Comunicação Social –, e o que se discute nas faculdades de Comunicação seriam diferentes se a história da imprensa negra fosse também vista como parte da história da imprensa brasileira. Ajudaria a mudar muita coisa. Mas isso fica à parte, segregado e distante da discussão e da formação dos estudantes. Seria uma diferença enorme se tomássemos consciência desse jornal feito por negros em 1876, afirmando a igualdade de todos os seres humanos. Claro que ajudaria a compreender o real papel da imprensa. Se recuarmos mais no tempo, para outro momento de construção de um grande pacto, temos as ambiguidades de José Bonifácio, na nossa primeira Constituinte, em que ele alerta que era necessário pensar, que era cedo pra fazer a libertação dos escravos, mas que era preciso considerar urgentemente essas possibilidades. Existe essa ambiguidade. Mas, ao mesmo tempo, José Bonifácio dá a notícia de algo que é a existência de uma marca que ele afirma ser “indelével”: a pele como um elemento que diminui a população negra em relação à população branca. Isso está no nosso primeiro pacto. Fica claro que há, para além da escravidão, para além de o escravo ser inferior ao amo, há algo que inferioriza as pessoas de pele escura em relação à pele clara, porque ela é o estigma que reduz essas pessoas, isso é fato. E José Bonifácio constata isso já em 1823. Isso é 1823. Não é preciso o tal racismo científico: em 1823, está clara a ideia de estigmatização para um constituinte como o Bonifácio.
Então, para nós o que é, a meu ver, novidade a considerar na forma de tratar o tema? É que, ao falar de racismo, precisamos sempre colocar esse contraponto que sempre existiu na sociedade brasileira. Ou seja, essa invisibilidade, esse silêncio que foi produzido no espaço público, é uma construção deliberada, mas uma pesquisa mínima revela vozes atuando em outra direção.
A sociedade brasileira não foi feita de uma nota só, afirmando a inferioridade de um grupo majoritário. Sempre houve a possibilidade de um contraponto. Qual é a relação entre mudança social e debate público? Um debate público é importante como variável para mudanças sociais? Admitamos que sim, que o debate público é fundamental – quanto maior a possibilidade de debater ideias, maior a chance de produzir mudanças sociais.
Estou dizendo isso para que a gente possa aquilatar a exclusão do debate público desse tema do qual vamos tratar hoje aqui. Quer dizer, no momento que você excluiu do debate público esse tema, que provoca silêncio, que chance haveria de mudar essa realidade?
Eu me pergunto – e tentava conversar sobre isso com Andre Degenszajn e Iara Rolnik em Salvador – de onde vem essa prioridade [do Instituto Ibirapitanga em trabalhar com a questão racial]? Eu queria saber. Seria uma percepção da história do Brasil que alimenta essa noção de prioridade? Ótimo, eu me entusiasmei. Alguém pode falar, mecanicamente, “ecologia, diversidades, gênero…”. Mas outra coisa é dar prioridade ao negro, com base numa leitura da história, e isso significar ações bastante objetivas. Por exemplo, provocar o debate público é uma ação fundamental para o nosso tema. Por quê?
Gerações de movimentos negros foram alijadas desse debate, foram silenciadas. Intelectuais, pessoas com imensa capacidade de participar do debate nunca puderam participar.
É possível montar um grupo de combate à pobreza e não considerar necessária a representação de negros? De um grupo que, se não teve nenhuma política que o beneficiasse na história do Brasil, enfrentou a pobreza a partir de quê? Não existe nem curiosidade de pensar como é que essas pessoas sobreviveram? Se não sobreviveram com base em políticas públicas, cabe perguntar: como os negros chegaram até aqui? Lembrem de Chico Buarque no “Leite derramado”((Chico Buarque. “Leite derramado”. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.)). O personagem do romance do Chico diz que seu avô era um abolicionista radical: ele queria a libertação dos escravos e queria o retorno de todos os negros para a África. Essa é ironia do personagem.
Tipo assim: acabou a escravidão, acabou vocês. Certo? Depois de 1888, não é escravo, então não é nada. É sobre isso que Lima Barreto vai falar: não é nada, você não é nada. Esse não ser nada, não ser alvo de nenhuma política em seu benefício, faz com que essa população sobreviva de que maneira? Conhecer essas estratégias de sobrevivência é o grande tesouro da sociedade brasileira, e esse tesouro está oculto.
Por isso, eu digo: a memória dos eventos é importante, mas essa memória familiar, essa memória comunitária, essa memória que fez com que as pessoas produzissem possibilidades de prosseguir sem o Estado, prosseguir sem a política e sobreviver – isso é uma memória essencial e é um tesouro para nós. É aí que está nosso tesouro, é aí que está o protagonismo essencial, é aí que está a garantia de que sobrevivemos. É aí que vão entrar as lavadeiras, que vão entrar as passadeiras, que vão entrar as Carolinas de Jesus, que vão entrar os depoimentos extraordinários, as receitas que vão ser construídas, os aproveitamentos, as estratégias mais refinadas para assegurar a continuidade da sobrevivência. Nesse sentido, acho “Um limite entre nós”((“Fences”, dir. Denzel Washington, 2016.)) um filme fundamental, porque eles conseguem fazer o que nós não conseguimos: colocar o ponto de vista de um homem que trabalha na limpeza urbana, que nós chamaríamos aqui de lixeiro, pra a partir daí pensar a circunstância dos Estados Unidos na década de 1950. Com base no cotidiano de um lixeiro. Como seria isso? Como seria pensar, hoje, na circunstância que o Brasil está hoje, a partir da casa de uma pessoa que trabalha na limpeza urbana? Como seria pensar as estratégias de sobrevivência numa conjuntura como essa, em que um botijão de gás chegou a ser vendido a 120 reais em algum lugar do Brasil, um dia desses? Como pensar as estratégias de sobrevivência? Esse é o tesouro fundamental.
Eu abri esses parênteses porque alijaram essa população, que tem um trajeto singular, que desde 1530 chegou ao Brasil e percorre uma trajetória extremamente singular. Descartaram essa possibilidade [de poder mostrar essa perspectiva]. É aí que vejo a importância do Instituto Ibirapitanga. Aquilo que o país descartou, o instituto está dizendo: “Opa! Isto é relevante”. Porque este é o descarte: uma população chega aqui nas condições que chegou em 1530, proibida de fazer qualquer coisa que não fosse trabalhar, e ela está aí até agora. Todo esse acervo de cultura, de civilização, descartado. Que país é esse? E é um descarte da maioria da população. Que país estranho… Como é feito esse descarte? Acho que a chegada a esse acervo, valorizar essas pessoas, valorizar essa trajetória, valorizar esse depoimento, é algo singular na realidade brasileira. Aí nós estamos falando de mudança estrutural profunda. Porque nós vimos em Brasília quem vinha discutir combate à pobreza. Meu Deus! São essas as pessoas jovens de São Paulo que vinham discutir políticas de combate à pobreza. Meu Deus! E as pessoas que vivenciaram esse combate no cotidiano não têm nada pra dizer? Essas pessoas não podem dizer nada, não podem ser ouvidas pra nada, não tem nada a acrescentar? Não, não tem nada a acrescentar, certo?
Existe uma marca fundamental, que é a marca do silenciamento, da invisibilidade no espaço público, e essas lacunas vão provocar um país simplesmente capenga. Eu queria exemplificar agora com um quadro concreto. Vi que o tema vai ser aproveitado em outra sessão [do encontro], então vou resumir rapidamente. A “Folha de S. Paulo” publicou um caderno sobre segurança pública e ouviu, segundo os editores, 20 especialistas nessa área. A certa altura do caderno, estou com o jornal aqui, a expressão é deliciosa: “salta aos olhos”. Olhem pra isso: “salta aos olhos”. Ou seja, tão evidente que ficou o fato de que as principais vítimas dos assassinatos no Brasil (65 mil, dizem algumas estatísticas; aproximadamente 60 e tantos mil assassinatos por ano) são jovens negros, homens e mulheres. E a Folha diz “salta aos olhos”. Bom, quem lida com o tema sabe que isso é uma enorme vitória, porque nos anos 1980, em que era uma mortandade enorme… Lembrem do disco do Chico (e Estela do Tuiuti), lembrem do Caco Barcellos com o “Rota 66″((Caco Barcellos. “Rota 66: a história da polícia que mata”. Rio de Janeiro: Record, 2003.)) fazendo pesquisa sobre quem a Rota matava, lembrem do Aguinaldo Silva com a Lili Carabina (e os cemitérios clandestinos da Baixada)… Naquele momento o movimento negro lançava uma palavra de ordem, “reaja à violência racial”. Eu editava um jornal naquela época [Raça & Classe] e fiz um editorial intitulado “Furor genocida”((Editorial do jornal Raça & Classe, n. 2, 1987.)): nós estávamos todos conscientes do genocídio que se praticava nos anos 1980. Não havia nada de “salta aos olhos” sobre quem morreu. O Caco Barcellos mesmo fez a pesquisa e não enxergou [o recorte racial dos assassinatos]. Ele não enxergou de primeira. É importante o papel de um auxiliar de pesquisa que ficava puxando o Caco pela manga e dizendo “Caco, veja a cor dele, veja a cor dele, vejam a cor”. Porque ele só vê a cor a partir desse chamamento pra enxergar quem a Rota matava. Até então, o Caco estava como todo mundo, abrindo o gavetão, vendo – mas sem ver a cor. O movimento via a cor, e berrava isso, e gritava isso.
Chegamos, então, a ver a cor, olha que vitória extraordinária, 30 anos depois! São pilhas de cadáveres. Depois de 30 anos, o principal jornal do país diz: “salta aos olhos”. Você fala: “Olha! Finalmente salta aos olhos”. É o preço que você paga por não ver, por não incluir no debate público as vozes que deveria ter incluído. São pilhas de cadáveres. Mas, ainda assim, vamos então ver agora, já que salta aos olhos, as recomendações de 20 especialistas. Dentre as recomendações, não está a prioridade da luta contra o racismo. Então percebemos que não, então não está “saltando aos olhos”. Tem um parágrafo do [Erving] Goffman, e eu costumo fazer palestra usando esse parágrafo, todo mundo que me conhece sabe que eu trabalho esse parágrafo. O Goffman não estava escrevendo sobre racismo, o título do livro dele é “Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada”((Erving Goffman. “Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada”. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980.)). Ele está falando de estigmas. O estigma da pele entra como mais um estigma. Essa quarta edição, que é a que eu tenho, e que está lá no “Ìrohìn”, é de 1988 – curiosamente, estamos nos anos 1980. Olhem o que vai dizer o Goffman: “Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma…” (aquele estigma que José Bonifácio viu em 1823), “que alguém com um estigma não seja completamente humano. Nós acreditamos nisso. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida”. Então, observem, o tema é assassinato. O tema é assassinato: eu [especialistas da reportagem citada] reconheço que a pele joga um papel aí, não sei qual é, mas não consigo, na hora da solução, dizer “gente, vamos ter que incluir entre a solução uma discussão e o enfrentamento do racismo”. Não existe coragem pra tanto. É isso que é a dimensão estrutural do racismo brasileiro. Mesmo que isso possa ser escrito, nada altera uma perspectiva, que é a mesma do texto do “Estadão” que eu comecei lendo aqui.
Há uma parcela da população que é descartável. Descartável por quê? Porque é uma representação de atraso, de barbárie, de inferioridade, ela compromete nosso acesso ao futuro, à civilização, aos avanços tecnológicos, a um mundo moderno. Então, ela se torna descartável.
Semana passada, quando cheguei a Salvador, vi um jornal como “A Tarde” anunciando, em página inteira, o cartaz de uma rádio FM do próprio jornal. E o casal da foto é branco, numa cidade de maioria negra. O que isso significa? Estou vendo o cartaz na minha frente, estou vendo o quê? Eu estou vendo que é o anúncio de uma rádio. Mas o que mais eu vejo? Quantas outras autorizações o cartaz traz para mim? O cartaz está autorizando o seguinte: essas são as pessoas desejáveis pela nossa instituição como ouvintes. Esse é o público de prestígio, nós julgamos que a vinculação com esse público dá prestígio ao nosso produto. Mas dá também um quadro do que queremos alcançar, de alguma maneira. Essa autorização que tá aqui é a autorização que o policial lê. O policial lê que tem uma autorização no anúncio. Todas as peças publicitárias passam para o policial a informação de que há uma parcela da população que não aparece ali, que é descartável. Portanto, diante da questão “mata ou não mata”, ele já recebeu a autorização de que aquela pessoa sob a mira do revólver é descartável. Então, não tem inocente. O professor, a professora que é capaz de ignorar um continente milenar, suas contribuições e tal. Quem é capaz de ignorar isso, uma realidade dessa dimensão, por que não mataria uma pessoa? Porque isso também é um tipo de morte.
Esse corte que você dá no saber, no modo de apresentar o mundo, a representação da humanidade visível, evidentemente isso conduz a escolhas que você está fazendo. Essa mensagem é captada.
Essa é a responsabilidade que as pessoas não querem assumir. São valores compartilhados amplamente na sociedade brasileira. Quais valores? De que existe uma população descartável, uma população que não tem história, porque o ser humano existe na história, mas ela não tem história. Seus valores são atribuídos por um conjunto de preconceitos e, a partir daí, ela não tem o mesmo peso. E o Goffman bate na tecla: reduzimos suas chances de vida.
A estigmatização, ao negar a humanidade do estigmatizado, reduz suas chances de vida. Então, os assassinatos, na verdade, não são decorrentes dos problemas da área de segurança; eles são decorrentes da cultura predominante entre nós, dos valores predominantes entre nós.
E se quero resolver a área de segurança, eu terei – e aí o Ibirapitanga entra –, terei de construir possibilidades de confrontar valores e a cultura hegemônica. Porque, se não for capaz de fazer isso, ficarei discutindo, como a Folha discute, remédios para a área de segurança, como se a área de segurança fosse recortada, separada, desse conjunto cultural, desses valores, e isso não é verdade.
E aí a Folha insiste que os negros não só morrem como matam. E aí precisamos recomendar o Primo Levi como leitura. A gente precisa ler esse livro [“É isto um homem?”]((Primo Levi. “É isto um homem?” Trad. de Luigi del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988.)) e passar adiante. O Primo Levi sai de Auschwitz e dois anos depois seu testemunho está pronto. É extraordinário isso, como tarefa humana. Sair nas condições que ele saiu de Auschwitz, como sobrevivente, e dois anos depois seu testemunho está pronto. Lá, ele descobre que viver era viver para isso. Porque é tão indigno sobreviver no campo [de concentração] que ele quer morrer: “Eu não quero viver, eu quero morrer”. Pelas indignidades que você tem de praticar para acessar um pedacinho, uma migalha de pão. As pessoas vão se envergonhando de si mesmas, num processo que os alemães faziam muito bem-feito, e então ele descobre que era melhor morrer mesmo, porque a vida dos seres humanos era muito indigna. E ele tem razão: “Mas por que eu devo viver? Eu devo viver pra testemunhar”. E é isso que ele vai fazer, vai dar esse testemunho. Ele dá esse testemunho. Observa que no campo – e é isso que quero dizer com os tais “que os negros estão se matando”; “Ah, vocês estão se matando aí, vocês têm de dar um jeito nisso”. Porque essa informação de que os negros morrem, mas de que eles são os que matam, é assim: “Ó, cara, vocês têm de ver isso aí, vocês estão se matando aí, vejam isso aí, hein?”. Porque a sociedade, aqui, ela não tem nada a ver com isso. Primo Levi mostra o seguinte: a administração do campo era feita por judeus. Ele vai vendo que os alemães não estão querendo meter todo mundo na câmara de gás e acabar rápido com aquilo. Não. Querem causar o maior dano possível à humanidade das pessoas; portanto, envolver alguns judeus na própria administração do campo era causar mais danos às pessoas. “Então eu vou fazer isso.” Eles dizem assim: “É, a gente via a Gestapo, via de longe com as metralhadoras”, mas no cotidiano do campo, havia os judeus para fazer o cotidiano.
Então, a presença de um policial negro não significa que isso é um problema dos negros. É uma estratégia da dominação usada há muito tempo, com diferentes grupos étnicos, para causar o maior dano possível à população. Não é que os negros “tratem de se entender, que vocês têm de se compreender, que vocês estão se matando”. Não é bem isso. A questão não é bem essa. Existe uma cultura que decidiu essa morte. O Lima Barreto vê isso com muita clareza, que há um cerco, um sítio ele diz, e que, na verdade, não há possibilidade de sair de um cerco fatal. Então, vejam só, eu escolhi essa tensão porque era preciso destacar a presença dos negros organizados, o que fazem, porque não há como pensar sem isso. Essa tensão está conosco, todos os anúncios, a programação de TV, estão baseados, por incrível que pareça, em diferenças biológicas, numa superioridade, numa imanência, na superioridade de uma natureza em relação a outra natureza. Nós estamos no século XXI. Por mais que tenha havido refutação científica disso, esse é um dado que opera selecionando e definindo a representação
do humano entre nós.
Se não formos capazes de alterar a representação do humano entre nós, nenhuma política de segurança vai dar jeito em nossos problemas. Precisamos redefinir o que entendemos por humano.
O Ibirapitanga pode contribuir para o que vem nessa direção. Ou seja, o que é humano? Todos são humanos? Essa é a questão. Se todos são humanos, então temos que rever o modo como nos organizamos, o modo como nos projetamos como coletivo, como grupo, as tarefas que distribuímos etc. etc. etc. Isso nós precisamos entender. E o preâmbulo da Constituição me parece
uma bússola segura. Sempre me surpreendo com aquele preâmbulo e penso “nossa, impressionante”, porque o preâmbulo consegue fazer uma referência sobre a existência da diversidade como um fato dado pela história.
O que é a diversidade? Reparem no pensamento conservador, como ele é matreiro. Ele consegue dizer: “O Brasil é um país rico em diversidade, ponto”. É o óbvio, é como ver a luz do sol: abro os olhos e vejo o sol. Para ver que o Brasil é um país rico em diversidade é só abrir os olhos. É verdade. E o que fazemos com a diversidade? O que queremos discutir não é a realidade da diversidade, a presença dela, porque isso é um fato.
Temos um mundo dentro de nós, é um fato. Mas como tratamos a diversidade? Nós hierarquizamos a diversidade. Não aceitamos o pluralismo, nós recusamos a resposta política adequada a uma realidade de diversidade.
O que a Unesco diz naquela conferência da diversidade? A resposta política adequada a uma realidade de diversidade é assegurar o pluralismo. É isso que está no preâmbulo da Constituição. A palavra que está no preâmbulo é pluralismo, uma resposta política a uma realidade de diversidade. Não é diversidade que está no preâmbulo, é pluralismo, porque estamos falando de como – diante da diversidade dos povos indígenas, diante da diversidade de povos europeus de diferentes origens, diante da diversidade de descendentes de africanos de diferentes origens, de judeus, de árabes, enfim, de novas migrações – como, diante de tudo isso, seremos capazes de construir uma sociedade pluralista. Porque a diversidade é dada pela história. Ela é a condição de sobrevivência da humanidade, nós sabemos disso. O problema é como nos colocamos diante dessa realidade de diversidade, e aí nós falhamos, porque não aceitamos o pluralismo. É só ligar a TV e vemos como rejeitamos o pluralismo. Nós rejeitamos. É só ir ao Congresso, nós o rejeitamos. É só subir acima de três salários mínimos que vemos que o rejeitamos. Nós não aceitamos. Ou vamos fazer homogeneização ou não vamos. Haveria muito mais pra dizer, mas eu sinto que o essencial é isso aí.
Vocês não fazem ideia, depois da visita da Iara Rolnik e do Andre Degenszajn, fiquei ainda algum tempo na sala me perguntando: “Eu sou um ativista sênior, estou com 68 anos, o que havia acontecido naquela sala?”. Porque eu fiquei realmente impactado com o interesse e com o que eles falaram. Quando a Iara disse assim: “Eu não estou com vontade de sair daqui, quero ficar aqui estudando, lendo”, eu falei “Nossa!”. E o Andre tomando nota e dizendo assim: “Não, não, não… é uma perspectiva… essa é uma perspectiva”. Porque aí é desafiador, porque na verdade aqui é um laboratório, se essa perspectiva é a perspectiva de trazer para o centro o que sempre foi colocado à margem… Nossa! Vai ser um laboratório para o país, extraordinário, extraordinário, extraordinário laboratório. Muito obrigado.
[…]
Às vezes, eu me pego na saída de escolas públicas cuidando pra não parecer um tio taradão [risos]. Vejo um espetáculo que é algo extraordinário, uma população que passava, literalmente, pelo canto da parede, cabeça coberta, envergonhada. E existe um livro sobre a comunidade judaica no Brasil, “A paixão de ser”((“A paixão de ser: depoimentos e ensaios sobre a identidade judaica”. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1998.)).
Eu adoro esse título: “A paixão de ser”. Eu acho que existe algo que não tem volta: é essa alegria que a gente está vendo na rua, nas crianças. O jeito como eles saem da escola, com o cabelo solto… andando na rua, a postura, a atitude. Há uma visibilidade nova, um se mostrar confiante, uma alegria de ser o que se é. De ser, de pessoa, assim.
A gente não sabe ainda no que isso vai dar, isso não é black power, isso não é, como eu venho explicando, “aperte os punhos”. Não, não é isso. É outra coisa, é outro contexto. A minha subjetividade pega algo assim: a alegria de ser, de se mostrar como se é, de se apresentar dessa maneira. É uma coisa muito forte.
Acho que, até onde eu conheço, isso não tem volta. Esse mostrar-se dessa forma, essa paixão, acho que não tem volta, isso não tem volta.
Pelo que eu estou entendendo, é algo muito forte, muito forte, muito forte, na rua, nas crianças.
(Por Linoca Souza) Fazer comida e comer com os seus é assumir uma função social que carrega sua magia de aprendizado, seja nos terreiros ou nas aldeias.