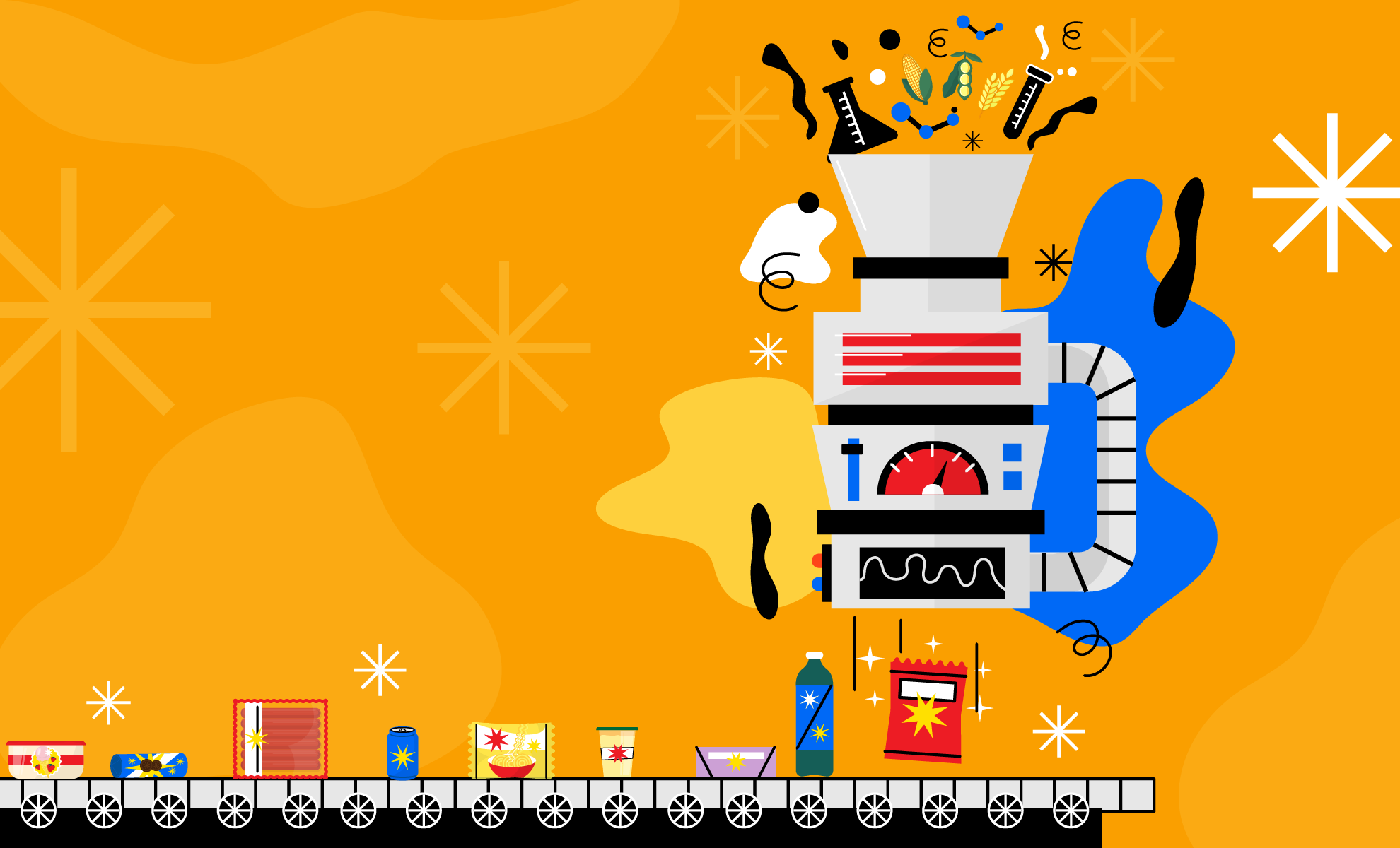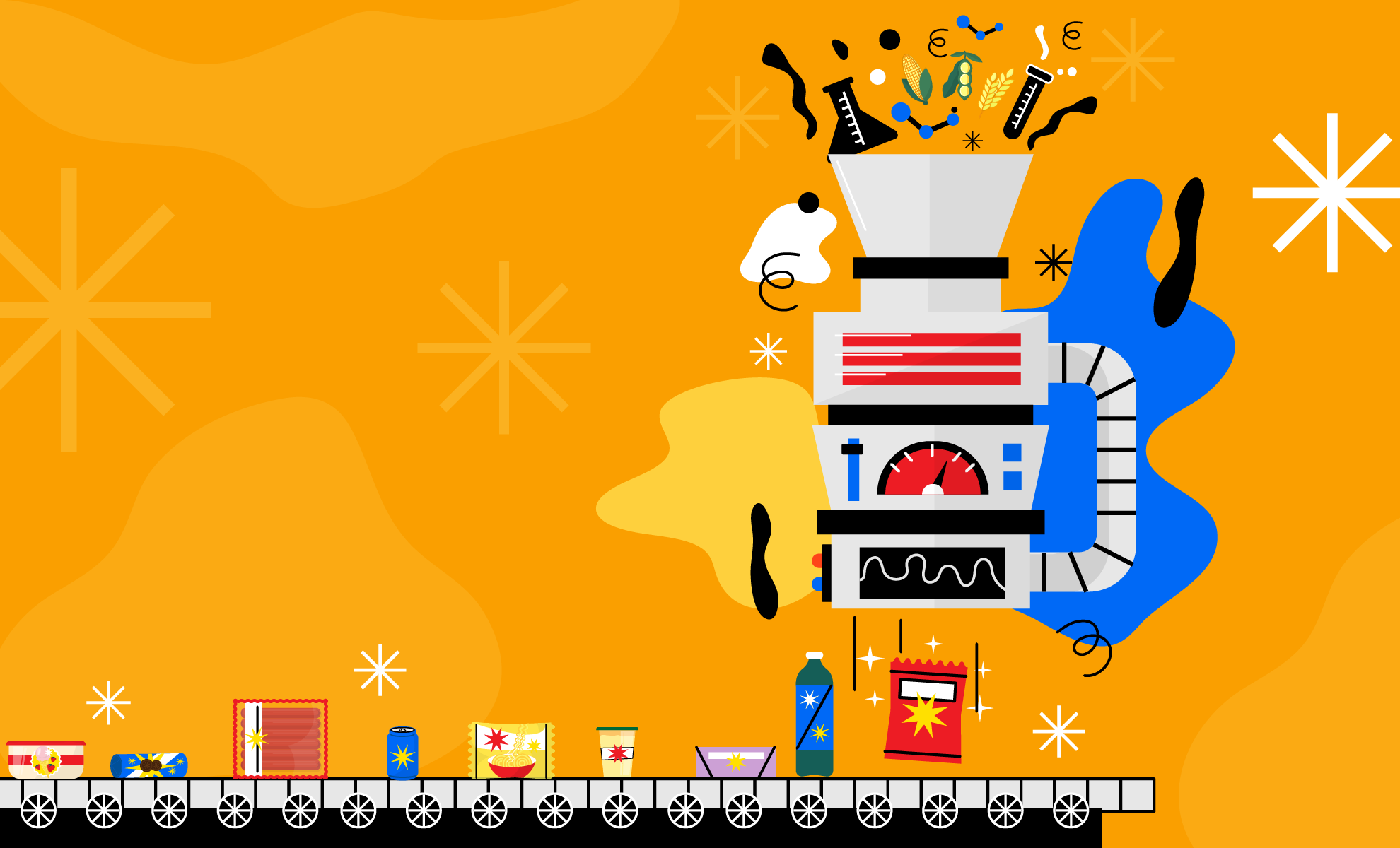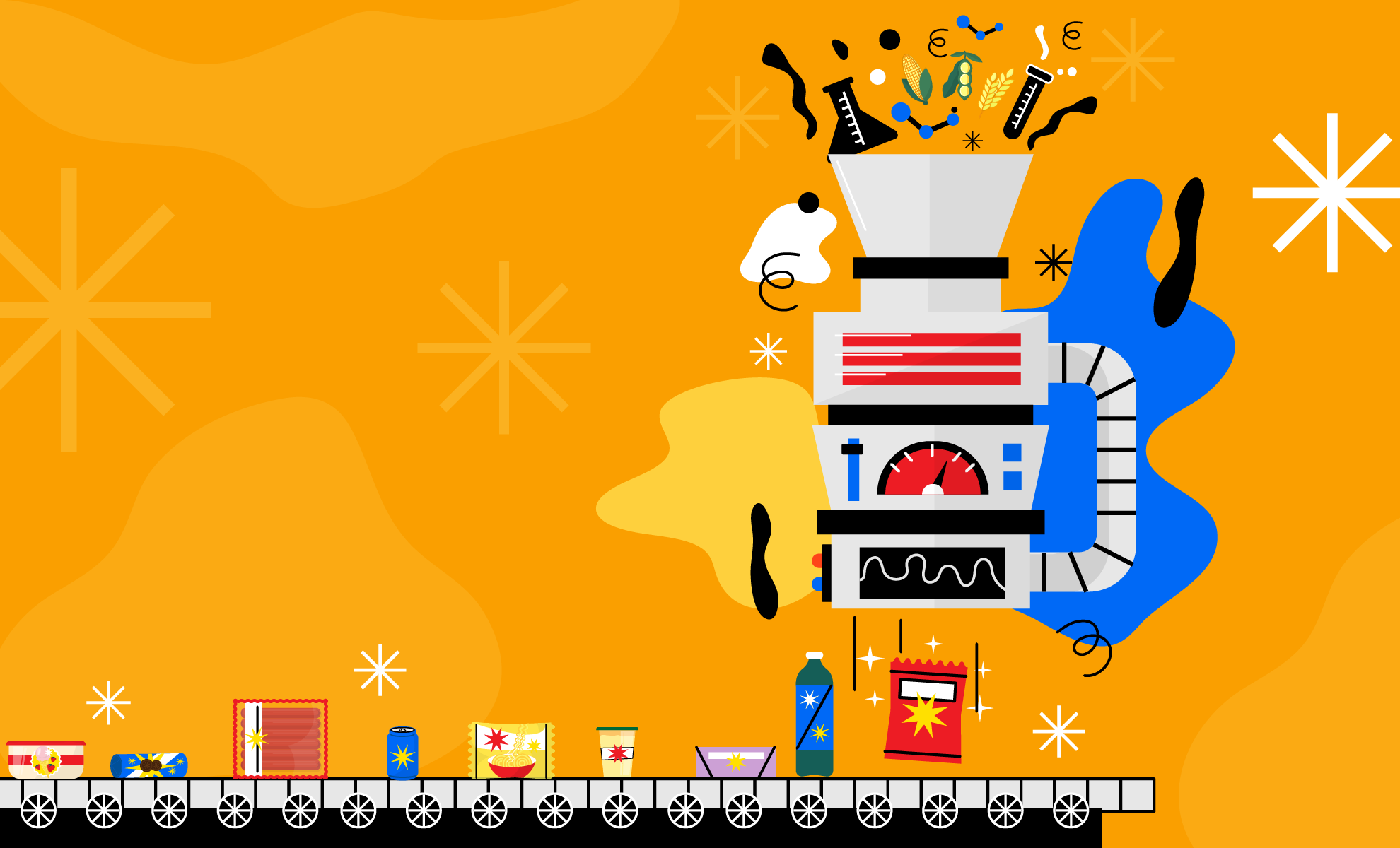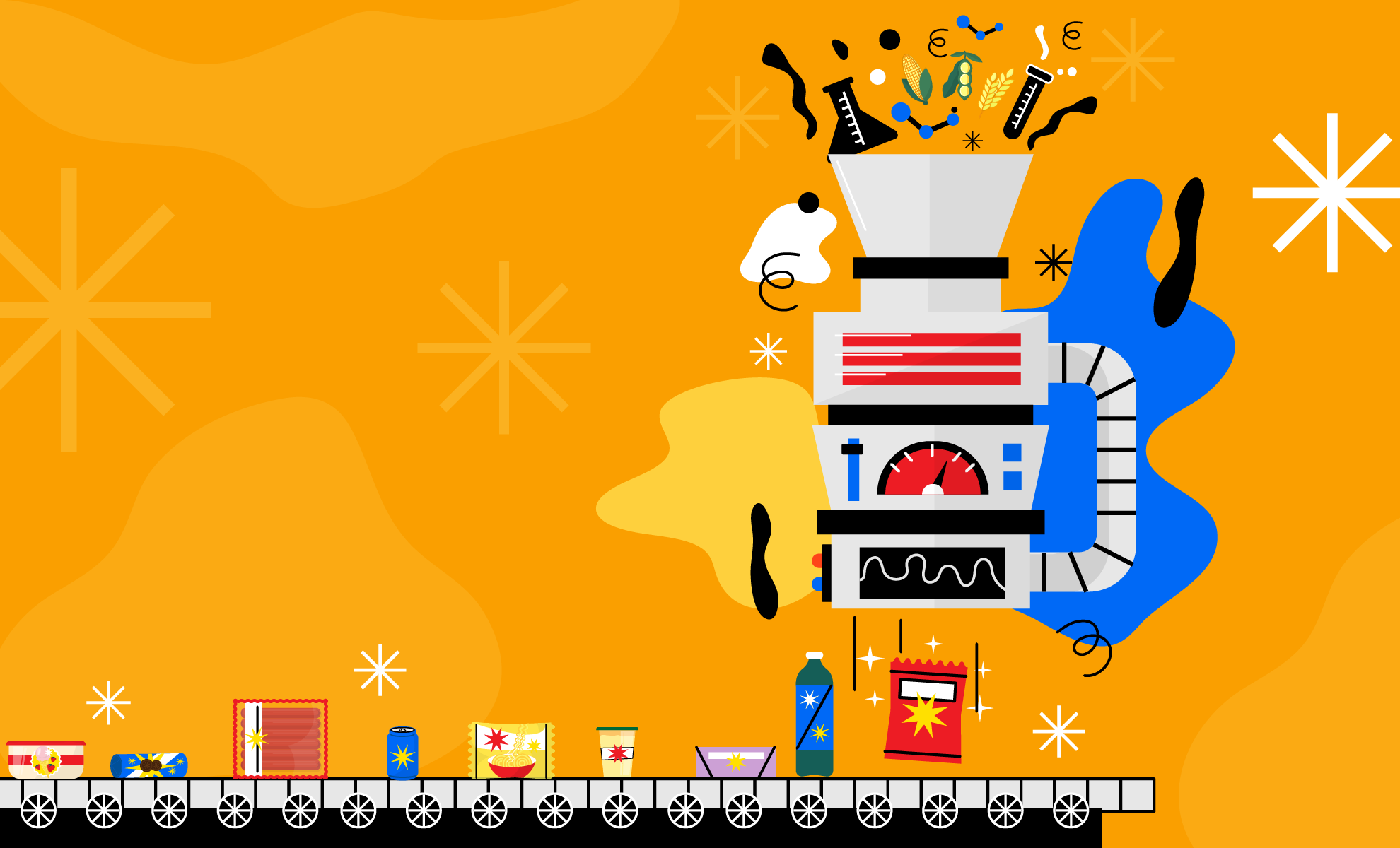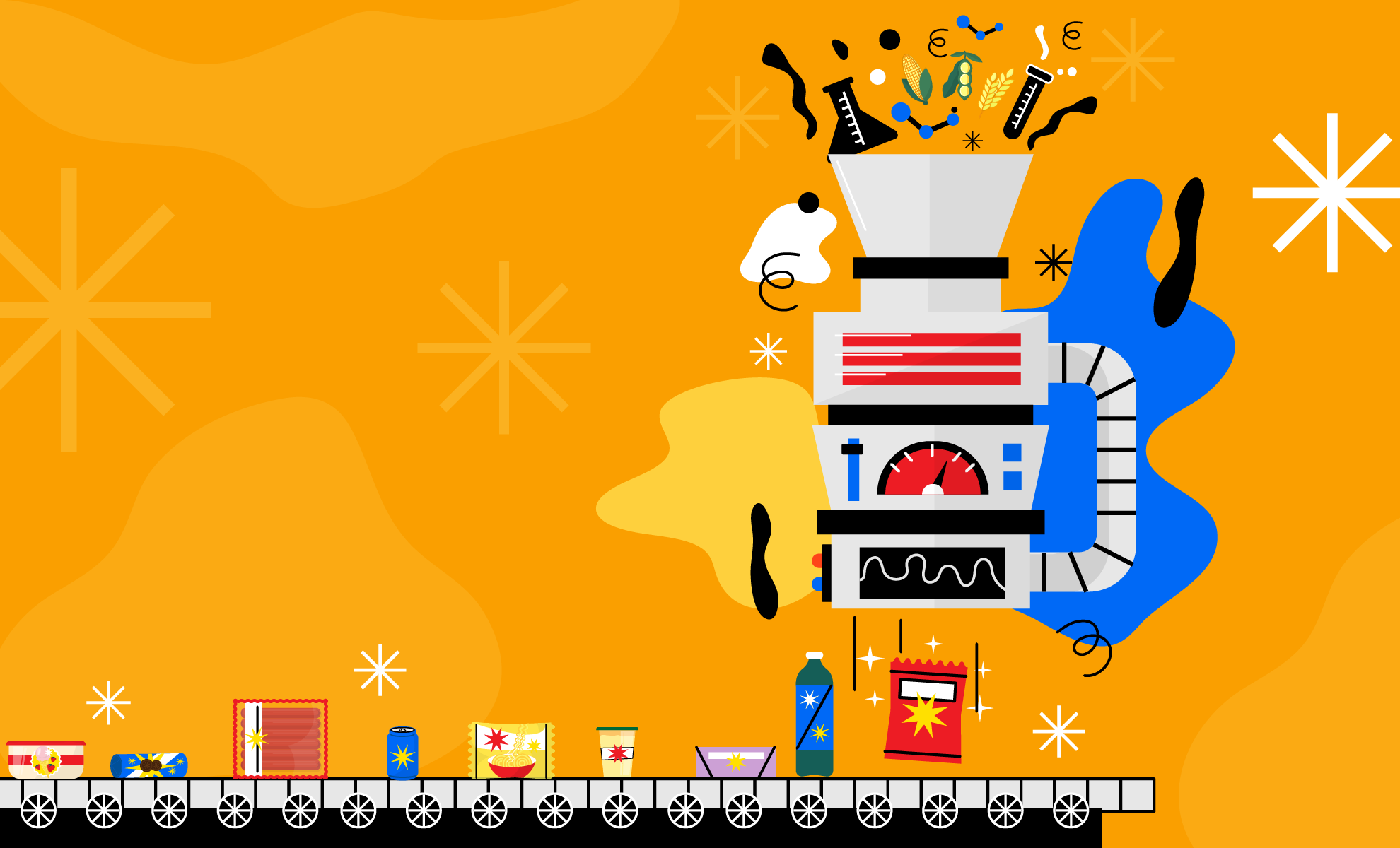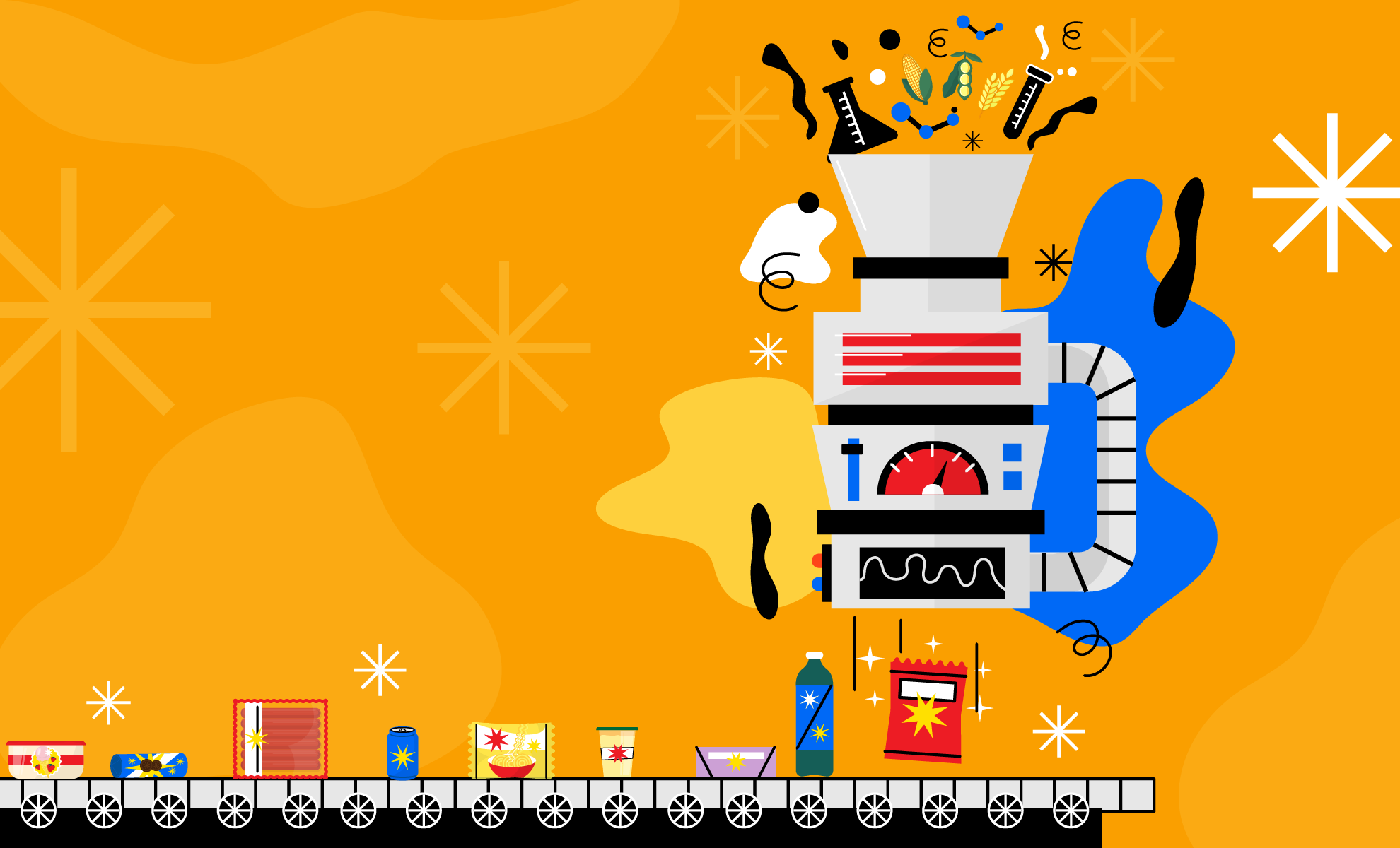Por Thula Pires no encontro “Equidade racial: desafios no Brasil contemporâneo”.
Thula Pires é professora nos cursos de graduação e pós-graduação do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e coordenadora adjunta de graduação no mesmo curso.
Boa tarde. É um presente estar aqui com vocês nesta tarde, nesta manhã, neste dia inteiro. Acho que faz muita diferença ter esses espaços, esses encontros. E eu estava conversando com a Denise Dora sobre as perguntas que orientariam minha conversa com vocês e dizia que só faz sentido pensar em ações estratégicas com o uso do Direito (usar o Direito contra o Direito) se estamos pactuados com as limitações desse campo. Acho que muito já foi falado aqui das nossas estratégias históricas do uso desse Direito contra o Direito – Luís Gama e outras experiências correlatas são exemplificativas disso. A gente também sabe fazer isso. Mas, pra mim, só faz sentido pensar nesses usos estratégicos quando pelo menos promovemos um acordo sobre as limitações desse lugar. De que maneira o Direito foi construído, em cima de que se sustenta? Portanto, quais são as barreiras que já estão colocadas para nós desde já, quando atuamos nesse lugar, quando estamos diante desse campo? E por isso começamos pelos limites. Começamos essa conversa falando de desumanização, e é desse processo de desumanização que eu queria partir.
Pra mim, só faz sentido pensar o Direito entendendo que a linha que divide a zona do ser e a zona do não ser impacta diretamente na construção desse Direito, e portanto, na construção de quem vai ser o sujeito de direito, qual vai ser o perfil através do qual toda a engrenagem jurídica vai se constituir. Como o Edson Cardoso falou pela manhã, as implicações dessas representações sobre o humano vão definir um lugar de proteção, que não nos diz respeito, que não nos acolhe. Portanto, pra mim, não é mais o momento de falarmos de violação de direitos, nem de inefetividade das normas.
O que a gente vivencia, o que a gente experienciou até agora, foi a mais bem-acabada aplicação do Direito, nos termos em que ele foi construído para atuar e para os sujeitos para os quais ele foi pensado para funcionar. Não é uma questão de inefetividade. Simplesmente, as nossas categorias jurídicas foram pensadas para a zona do ser e não para a zona do não ser. Portanto, tudo aquilo que é colocado na roda – e estou falando não apenas do ponto de vista de elaboração da norma, do ponto de vista legislativo, mas principalmente do processo de aplicação – tem relação com as experiências de violência que atuam episodicamente sobre a zona do ser. E na nossa realidade (da zona do não ser) a violência é a norma e a legalidade não chega. Sabemos que a forma de composição de conflitos na zona do não ser não se dá sobre a legalidade, mas pela violência, sobretudo pela violência de Estado. E não vamos conseguir construir muita coisa se não tivermos coragem de entender que precisamos produzir um esforço de autoinscrição e, portanto, construir categorias jurídicas a partir do lugar onde estamos, capazes de responder ao tipo de violência que sofremos. A Lei Maria da Penha é um exemplo muito significativo disso. Porque durante um tempo imaginamos que era a possibilidade ou não, o acesso ou não aos processos de elaboração normativa que poderiam influenciar mais diretamente o conteúdo dessas normas. A própria elaboração da lei contou muito com a contribuição das mulheres pretas que estão aqui presentes, num esforço inacreditável para que aquela norma tivesse o resultado que teve.
A questão é que nas disputas, nas tensões políticas, e no momento dos recursos escassos, o que fica nas normas – na verdade, o que sai do conteúdo normativo – são exatamente aqueles aspectos que possibilitariam a sua efetividade entre nós. E não é por acaso que a Lei Maria da Penha responde muito mais à proteção às mulheres brancas e nenhuma pra nós, ou muito pouca pra nós, ou muito residual pra nós. E, não por acaso, impactou significativamente no aumento da mortalidade de mulheres negras. Quanto à ADPF 186 [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental] no Supremo, sobre as cotas, não consigo ver com o mesmo entusiasmo de vocês. Porque, pra mim, tem aí o desenho muito nítido de um movimento do Supremo de que algumas forças e conjunturas políticas produziram o 11 x 0, mas eles fizeram questão de demarcar, nos argumentos dos votos, que nós não vencemos. Então, não temos 11 votos favoráveis à política de ações afirmativas. O voto do Gilmar Mendes, por exemplo, é um voto difícil de entender como favorável, porque não tem nenhum argumento dele que seja favorável às cotas.
Aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, observamos os processos movidos contra a política de cotas da UERJ((Thula Pires e Kamila Mila. “As ações afirmativas de corte étnico-racial pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (2002-2013)”, O Social em Questão, vol. 32, p. 19-38, 2014.)) e o resultado final quantitativo é de que ganhamos boa parte das ações. Sabem qual foi o argumento de boa parte das ações ganhas? Eles faziam conta: as pessoas que entravam com a ação eram pessoas brancas que diziam que não tinham entrado por causa do sistema de cotas e que, por isso, queriam anular o sistema. Os juízes, para dar uma decisão desfavorável a essas pessoas, faziam conta e o argumento final da sentença era: “Você não teria passado, mesmo se não tivesse o sistema de cotas”. Essa não é uma decisão favorável às ações afirmativas, ainda que num olhar quantitativo tivéssemos um número significativo de vitórias em relação às ações movidas contra a política de ações afirmativas.
Acho que a possibilidade de avançar na mobilização do Direito para o enfrentamento do racismo e para a promoção da igualdade racial pressupõe o esforço de pensá-lo a partir da zona do não ser. Pra mim, só faz sentido pensar desse lugar, e a partir daí acho que precisamos avançar em ações estratégicas.
O que fazemos até lá: olhamos pra trás e aprendemos com os mais velhos como usar o Direito contra o Direito e conseguimos vitórias pontuais. Eu não tenho problema nenhum com isso. Problema nenhum de consciência em relação a isso. O avanço está exatamente em produzir esse esforço de autodefinição, de autoinscrição((Achille Mbembe. “As formas africanas de auto-inscrição”, Estudos afro-asiáticos, vol. 23, n. 1, p. 171-209, 2001.)). Como criar
categorias jurídicas que deem conta de um sujeito de proteção que tem um corpo e uma experiência parecidos com os nossos e que, portanto, perceba a violência num contexto muito mais próximo do nosso? Não é por acaso que, se compararmos as constituições que mais dizem respeito à nossa formação nacional – as mais conhecidas, como a Revolução Francesa e a Constituição posterior a ela, a Revolução da Independência dos EUA e a Constituição estadunidense, que são aquelas que mais influenciaram a dogmática constitucional brasileira –, vemos que elas forjaram um constitucionalismo que tem um modelo de Estado que se vê como alternativa a um regime [o Antigo Regime] que nunca foi um problema do tipo do nosso.
E temos a Constituição Escrava. Temos a Constituição pós-revolução escrava no Haiti, que responde muito mais ao tipo de problema que tínhamos a enfrentar ao fundar a nação brasileira, que é o projeto colonial. E essa Constituição, por exemplo, tem um elenco de direitos fundamentais completamente distintos da Declaração Francesa, da Declaração Estadunidense e da Declaração Inglesa. Óbvio, porque a experiência de violação e de violência é tão brutal que a capacidade de pensar a liberdade é muito mais alargada, e ela pode ser capaz de dar conta do mundo que herdamos.
Então, imagino que é nesse lugar que podemos avançar. Em relação aos efeitos da interseccionalidade como ferramenta para construir estratégias de equidade racial e de gênero, acho que aqui não é lugar pra fazer esse tipo de observação, tanto Djamila Ribeiro como Márcia Lima já tinham citado isto: não estamos falando nem de política de identidade, nem de atributo de diferença, estamos falando de posição social, com cada um desses marcadores. Parece-me que o potencial da imbricação para pensarmos equidade racial é exatamente o fato de que precisamos, a partir de
agora, ter muito mais responsabilidade, não só com as categorias que centralizamos, mas principalmente com aquelas às quais renunciamos. Vivemos uma trajetória em que a centralização da classe, por exemplo, foi muito evidente em determinados contextos, e a lateralização da raça, a lateralização do gênero, a lateralização da sexualidade não foi nomeada. Mas isso implica, isso diz coisas. E a imbricação das categorias, a interseccionalidade, tem o potencial de não só nos obrigar a analisar esses contextos através dos atravessamentos entre cada um desses marcadores, mas de
fazer entender de maneira um pouco mais complexa como as violências são vivenciadas. Centralizar a raça como categoria implica entender melhor como o patriarcado funciona, como a cis-heteronormatividade funciona e como a luta de classes funciona. Assim como entender o capitalismo nos ajuda a perceber qual é sua relação com o racismo, o patriarcado e a cis-heteronormatividade. Acho que tem aí um potencial para construir uma equidade racial que seja capaz de dar conta da complexidade das violências que sofremos. Porque vivenciamos contextos de violência muito distintos a partir do lugar de desumanização a que estamos submetidos, dependendo do atravessamento que a gente tem. Precisamos ter resposta a isso, pra não cometer os mesmos erros.
Quanto à última pergunta, a mais desafiadora, sobre como apoiar um novo ativismo, atualizando formas de lidar com o Direito e as relações raciais… Pensando um pouco em qual seria a possível contribuição do Instituto Ibirapitanga, me parece que é exatamente a possibilidade de não ter as amarras das agências de fomento e das universidades na construção dessa autoinscrição, na produção dessa autoinscrição. A Sueli Carneiro já nos ensinou o suficiente sobre o epistemicídio e seus impactos nas possibilidades e impossibilidades de produção e autoinscrição. E o racismo institucional do sistema de Justiça opera nos mesmos termos. É muito difícil imaginar que vamos conseguir financiamento, tanto da Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior], do CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] ou de qualquer outra agência de fomento para a produção de conhecimento, a partir de uma matriz não hegemônica. Difícil também imaginar acordos com o sistema de Justiça que
nos permitam colocar na roda, para a produção normativa, outros atores secularmente invisibilizados e que quando atuam politicamente têm suas falas mediadas por não serem reconhecidos como testemunhos políticos do nosso
tempo. Me parece que o Instituto Ibirapitanga, ao não estar atrelado aos mesmos parâmetros dessas e outras agências de fomento, pode ter a ousadia de reconhecer testemunhos políticos e, portanto, de interpretações do nosso tempo, que venham de lugares que dizem muito mais sobre as violências a que estamos submetidos e, portanto, podem produzir respostas muito mais eficientes e diretas. Um exemplo é o movimento de mães.
Interessa discutir política criminal não nos gabinetes e não a partir dos critérios da Capes. Quero discutir política criminal a partir das mães vítimas de violência de Estado, eu quero discutir política criminal com pessoas privadas de liberdade, porque elas têm muito mais a dizer sobre o efeito desproporcional que a política criminal gera para cada uma delas e para cada um de nós, obrigatoriamente.
Vivemos em relação, e se vivemos em relação, o fato de efeitos desproporcionais recaírem sobre determinados corpos implica, necessariamente, que sobre outros corpos há um privilégio, ou um conforto, que é sustentado em cima da violência permanente e constante sobre a zona do não ser. Acho que é fundamental oferecer possibilidades concretas de produção de categorias jurídicas a partir desses lugares. Oferecer possibilidades para que possamos colocar, por exemplo, essas mães em condições de sentar e pensar respostas concretas à política criminal. Aprender com pessoas privadas de liberdade não só determinados sintomas do momento que vivemos, mas também como pensamos os pactos políticos que sustentam um sistema prisional como o nosso.
Eu sou da área de Direito Constitucional e uma árdua defensora da Constituição de 1988, mas não posso ignorar o fato de que, sob a sua vigência, a gente teve um incremento de 707% de encarceramento, sobretudo de gente preta. Construímos um Estado Democrático de Direito e, portanto, uma ideia de democracia, extremamente acumpliciada com os processos de desumanização e hierarquização da nossa gente, ainda que tenhamos feito parte direta da elaboração desses textos e tenhamos conseguido colocar nesses textos uma série de respiros possíveis, que têm produzido alterações importantes no cenário que vivemos.
Muitas dessas alterações importantes foram destacadas aqui, eu não estou tirando isso da roda, não seria adequado, não faz sentido. Seria leviano da minha parte se eu fizesse isso. Quero entender o direito à moradia a partir das mulheres que resistem às remoções, porque são elas que sustentam os processos de resistência às remoções. Elas têm um conceito de direito à moradia que manual de Direito nenhum, decisão jurídica nenhuma é capaz de construir, de dar conta. Porque se vemos a complexidade do que significa a moradia, que não está reduzida a quatro paredes, que não pode significar uma troca automática do lugar onde você está por um Minha Casa, Minha Vida aqui ou acolá. O direito à moradia pressupõe redes, o direito à moradia pressupõe identidades, o direito à moradia, pra muitos de nós, está relacionado à noção de territorialidade que nos permitiu chegar até aqui e que reconfiguramos, ressignificamos no contexto rural e no contexto urbano. E não é um Minha Casa, Minha Vida que te tira daqui e te põe acolá que vai resolver uma série de questões como essa. Essa não uma resposta que o Direito tem que dar. O Direito tem que dar uma resposta que ofereça as mesmas condições e as condições que consideramos fundamentais para nossa forma de vida, ou não temos a alegria de viver e de ser. Não queremos simplesmente estar em algum lugar, a moradia não pode significar isso, ela tem que ser algo que nos permita desenvolver uma série de outros atributos.
Acho que esses programas de assessoria jurídica popular são extremamente potentes exatamente porque as pessoas – pegando, por exemplo, a experiência das promotoras populares, porque é uma experiência que conheço um pouco mais de perto – não saem dali para litigar, para reproduzir a figura do rábula. Elas saem dali com muito mais capacidade de compor conflito extrajudicialmente, porque é só ali que conseguimos alguma coisa que presta e que nos diz respeito. Porque, ao entrar no sistema de Justiça, lascou-se, “deu ruim pra gente”. A chance de sair alguma coisa que preste dali é muito pequena, porque todas as mediações vão começar a operar no sentido de esvaziar toda a potência possível que existe na construção do que nos leva até lá. E elas fazem muita coisa exatamente porque são muito mais municiadas para produzir articulações extrajudiciais, porque nós resolvemos os nossos conflitos nos nossos termos, e não através de mediações e processos de desumanização. Então, me parece que seria interessante, pelo menos na nossa área, que o Instituto Ibirapitanga, por não estar amarrado a parâmetros academicistas, a essas normalizações de produtividade às quais as Universidades ainda estão amarradas, que o Instituto reconheça outras sabedorias, reconheça nossa memória civilizatória, como o Edson Cardoso falou no início. E que a partir dela possamos oferecer projetos alternativos de construção não só jurídica, mas projetos alternativos de pactos políticos, porque é disso que estamos falando. E temos historicamente muita coisa pra oferecer, muita arqueologia pra botar na roda e muita coisa pra construir com base no contexto em que estamos inscritos. A própria alteração das dinâmicas do racismo faz com que passemos a responder às violências em termos muito distintos, e é importante que isso apareça. É importante que as vozes apareçam e possamos construir esse lugar.
[…]
Um dos grandes potenciais de trazer esses corpos e essas experiências para a produção normativa é exatamente porque eles vão propiciar, obrigatoriamente, uma construção do Direito em pretuguês, que não é a linguagem assumida, em todos os seus limites, nos tribunais.
Quando falamos da Lei Caó(( Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989: “A legislação define como crime o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Também regulamentou o trecho da Constituição Federal que torna inafiançável e imprescritível o crime de racismo, após dizer que todos são iguais sem discriminação de qualquer natureza”. Mais informações aqui. Acesso em: 18 jul. 2018.)) e que ela dificulta a própria capacidade de mobilização para enfrentar o racismo, é porque ela segue toda essa tradição moderna ocidental – portanto, individualista e voluntarista. É uma lei que imagina que o ato de racismo é fruto de escolhas. O racismo estrutural, institucional, passa longe da possibilidade de ser destacado quando mobilizamos a Lei Caó. Ela só é, basicamente, passível de ser mobilizada para aqueles atos de racismo aberto, com toda uma mobilização de tecnologias, como disse o Silvio Almeida. Precisamos mostrar intenção, mostrar que teve vontade suficiente no sentido de ofender. Quando falamos de racismo, não estamos falando de voluntarismo, não estamos falando de individualismo, é outra coisa. Fica muito difícil, realmente, mobilizar a norma. E dá pra fazer alguma coisa com essa norma? Dá. Conseguimos fazer coisas com ela, dependendo de quem encontramos, mas aí é ganhar na loteria, né? Não estamos em condição de ficar contando com sorte. […] E a loucura, a incompreensão é tamanha porque não só vem de uma dimensão voluntarista, como é capaz de responder a um modelo de racismo aberto que, por mais que hoje em dia seja possível dizer que estamos nos aproximando disso, sabemos que o que mais caracteriza a dinâmica do racismo entre nós é o racismo por denegação.
Então, como vamos pensar o racismo por denegação e apresentar como resposta jurídica possível uma coisa que pressupõe que o racismo por denegação se apresente de forma aberta? Estamos falando para quem? É de novo aquele negócio, apresentamos respostas jurídicas para problemas que não são do nosso tipo. Então, é preciso que eu tenha uma resposta, uma lei de combate ao racismo, que entenda como funciona o racismo pra nós. E ela não faz isso, vai buscar em outras experiências um modelo de racismo que está arraigado a padrões que não são nossos. Não nos interessa uma resposta de caráter individualista. O nosso próprio projeto de enfrentamento ao racismo, e aí vou ficar só com o quilombismo do Abdias Nascimento, já pressupõe uma construção que vai em outro sentido. A própria resposta não é adequada a boa parte da agenda política do movimento negro. O combate ao racismo está na nossa
agenda, mas as respostas possíveis que essa norma oferece, as maneiras, estão muito mais descoladas da agenda política histórica do movimento negro do que próximas dela. […]
Quem está pautando nossa agenda? Vamos continuar arriando comida pra quem, enquanto estamos com fome? Eu não vou ficar arriando comida pra quem está com a barriga cheia. Quando falo desse esforço de autoinscrição, é porque perdemos muito tempo respondendo às coisas nos termos em que as coisas são colocadas e acabamos não tendo fôlego, não tendo energia, para produzir aquilo que nos diz respeito. Quando a Cida Bento perguntou dessas articulações extrajudiciais, se elas são contraditórias com esses processos institucionais, eu acho que depende – pode ser e pode não ser.
Os processos de formação das faculdades de Direito no Brasil nada mais fizeram do que institucionalizar o projeto colonial. Temos ali o Recife produzindo as tecnologias de controle dos corpos e a Faculdade de São Paulo determinando como, institucionalmente, as estruturas coloniais seriam mantidas. O Direito se produziu por essa linguagem, se produziu por essa engrenagem e acaba respondendo apenas nesses termos.
Nesses termos, acho que pode ser contraditório, sim, pensarmos nesses respiros de ações extrajudiciais em relação a esse estado de coisas, mas sabemos também que as instituições são contraditórias. Temos a possibilidade de pensar essas dinâmicas, sabemos que existem instituições que, em determinadas fases, atribuem um peso importante à própria atuação extrajudicial, como a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Em alguns momentos houve uma defensoria geral mais aberta a essas ações extrajudiciais, que produziram resultados muito impressionantes, significativos pra nós, muito mais do que quando a Defensoria estava litigando. Então, acho que elas também podem
ser parceiras importantes nesse processo de mediação nos nossos termos, desde que entendam que tem que ser nos nossos termos. O que vai definir se há contradição ou não é saber se há mediação entre a nossa capacidade política ou não. Acho que toda vez que a instituição achar que vai mediar nossa atuação política, a chance de conseguirmos alguma coisa que preste, a partir dali, diminuem bastante. Se as instituições, ao contrário, tiverem alguma abertura para que possamos fazer parte do processo de construção e consolidação e remediação daquele conflito, nos nossos termos, pelos seus procedimentos e pelos nossos, aí acho que não tem contradição, tem uma sinergia importante. Vai depender de qual é o lugar de mediação da nossa humanidade, no final das contas, nesse processo. Quando a Ana Toni fala que não temos segregação ativa, é claro que temos uma dinâmica de atuação do racismo no nosso contexto, no contexto tanto dos Estados Unidos como da África do Sul, que são distintos entre si. Acho que o Silvio Almeida já trouxe impactos importantes desse processo na constituição do Estado brasileiro Mas tivemos, sim. E esse é um mito que a gente precisa desconstruir, tivemos uma penca de normas que produziram segregações, por lei, da nossa gente,
por uma série de aspectos da vida pública. Não só vadiagem, capoeira, curandeirismo, mas no (não) acesso a políticas públicas.
Na Constituição de 1934, a educação pública era eugênica. E isso nem foi no período escravocrata. Estou falando de um Estado que não era nem o Estado Novo, ainda. Estou falando do processo de um Estado social. O Estado social que chega pra gente e diz que a construção dos direitos sociais, aqui, vai se dar nesses termos. O direito à educação, aqui, se dá a partir desse lugar. Que mensagem é essa que o Estado brasileiro está dando pra gente? […] Temos exemplos de todas as ordens normativas. Se pegarmos a Constituição, vamos ter exemplo de segregações formais; se pegarmos a lei infraconstitucional, vamos ter exemplos; se pegarmos portarias ou normativas de órgãos públicos, administrativos também. Tem coisa do Instituto Rio Branco proibindo a imigração de gente preta.
[…]
Em relação à Maria da Penha (a Denise Dora pode falar também), seu grande potencial está muito mais nas medidas protetivas do que naquelas que criminalizam. E todas as medidas protetivas são pensadas para funcionar em um contexto que não é o das mulheres negras. Não por acaso, é justamente o não acesso a essas medidas protetivas que faz com que a gente morra mais. Existem pesquisas que mostram que, para nós, com a Lei Maria da Penha questões que deveriam ser resolvidas em vara de família – se é que deveriam ser judicializadas – estão sendo resolvidas em delegacia de polícia. Enquanto isso, as mulheres brancas continuam na vara de família. Basta ver o espaço da delegacia de polícia como um espaço onde resolvemos conflitos que são de outra natureza, que deveria ser de outra natureza. Isso tem impacto desproporcional sobre a nossa vida, porque sabemos o que significa a mão penal do Estado sobre a nossa realidade. Isso nos leva a fazer contas que numa vara de família, por exemplo, não precisaríamos fazer, para recorrer ou não recorrer ao sistema de justiça. Estamos com um projeto que chama Cartas do Cárcere, em que lemos todas as cartas que pessoas privadas de liberdade mandaram, no ano de 2016, para todas as instituições públicas nacionais. Uma das cartas, de uma mulher de São Paulo, era muito emblemática, porque ela começa dizendo que a prisão dela, num primeiro momento, foi um respiro, foi um alívio, porque só a partir do momento em que ela foi presa cessou a violência doméstica. E não é uma mulher que está romantizando a prisão, porque depois ela fala do que é a prisão e de uma série de coisas, então não é alguém que está num delírio, atribuindo à prisão algo que a prisão não é.
Mas eu estou só querendo pensar a questão da Maria da Penha. Que lei é essa que não consegue enxergar essa mulher, que a única possibilidade que essa mulher teve de cessar um suplício foi com o início de outro… É óbvio que ela não foi presa por conta disso. Ela não se entregou, “alguém me leva”, não, não foi isso que ela fez. Mas a realidade é tão perversa, tão brutal, que só a prisão foi capaz de cessar a violência à qual ela estava submetida. Precisamos entender que tipo de resposta essa lei é capaz de dar para um contexto e uma realidade como a dessa mulher. E aí, de novo, essa mulher é submetida ao que há de mais degradante e desumanizante em termos institucionais. O que temos por aí, o que essa mulher, nesse lugar, diz, que num primeiro momento estar ali foi um grande alívio, de diminuição de
tortura. Isso é muito, muito… perverso.
[…]
O sofrimento impingido ao corpo preto não registra, o Poder Judiciário não vai registrar. Nosso sistema de Justiça nos deu provas significativas de que, por mais que produzamos e aperfeiçoemos nossas estratégias de resistência, considerando as experiências que tivemos e temos, vai haver uma reinvenção das estratégias e das tecnologias de controle do nosso corpo nos lugares do não ser. Então, é com isso que lidamos, né? Por isso acho que a possibilidade de efetivamente avançar se dá ao pensar respostas nos nossos termos. Por isso temos de pensar a partir dessas experiências, que são concretas, que são experiências de quem já está produzindo essa outra forma de vivenciar o Direito, de pensar o Direito. Pegar politicamente experiências concretas de produção da moradia, de produção de uma resposta à política criminal, como as mães, que estão produzindo provas… E por mais que o Poder Judiciário, no fim das contas, não produza a resposta esperada, as mães produziram uma resposta que o Estado nunca daria a elas em relação àqueles casos.
Por isso acho que vem daí. Em termos mais teóricos, de pensar a produção da Teoria do Direito, meu desafio tem sido mobilizar a Lélia Gonzalez((Lélia Gonzalez. “A categoria político-cultural de amefricanidade”, Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 92/93, p.69-82, jan./jun. 1988.)) pra tentar pensar uma teoria amefricana do Direito. Quero o Direito escrito em pretuguês, assumindo os custos políticos do que significa escrever o Direito em pretuguês.
Vale muito mais a pena aportar recursos para experiências políticas concretas que estão acontecendo e estão produzindo direitos em termos distintos, em espaços distintos, que têm a potência de tensionar as instituições. E vamos tensionar, porque vamos ter muito mais resposta pra isso. Acho que a resposta não está dentro do sistema de Justiça. Nossa resposta de produção de Direito nos nossos termos está fora do sistema de Justiça. Conseguimos, de um lado, tensionar, porque estamos alterando a realidade, com nossa produção normativa, e estamos conseguindo avançar numa construção de agenda de conformação extrajudicial dos nossos conflitos, que é onde conseguimos de fato avançar. Eu não consigo acreditar em avanços dentro do sistema de Justiça. É pontual mesmo, é o que dá pra fazer com o que a gente tem pra janta. Acho que é isto: vamos ganhar nos tensionamentos, nos constrangimentos, acho que uma entrada cada vez maior de negras e negros nesses órgãos aumenta o constrangimento, aumenta a pressão. Mas o sofrimento do corpo da gente não é registrado. Nossa humanidade está negada. Nada me convence de que vamos conseguir, com as melhores medidas e as mais sofisticadas, tentar interpelar esse órgão do sistema de Justiça a sair da sua posição de privilégio, a dar conta desse medo, que é absolutamente abstrato. Acho que não temos o que fazer com esse Direito, ele está maculado de todas as formas, mas temos uma produção normativa que é muito maior do que isso e sempre foi, e que permitiu que estivéssemos aqui. Nunca abandonamos essa esfera de luta. […] Não estamos em condições de escolher campo de luta e estou lutando aqui também.